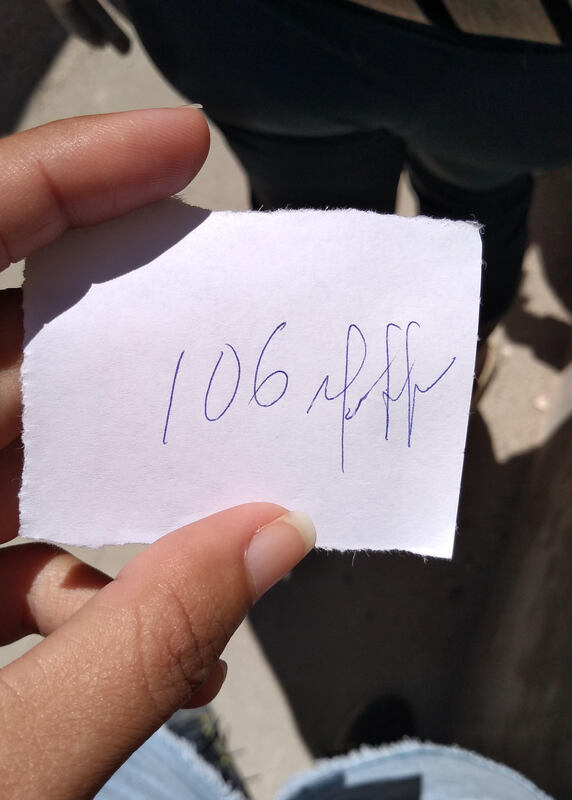|
Caridad entrou enérgica pela porta com seu “nasobuco” branco, sua bolsa de estampas africanas e sua vitalidade indiscutível, vociferando: “Corona vírus!” flexionando o braço e apontando o cotovelo em nossa direção, um cumprimento que parecia dizer: esse é o novo bom dia. Depois dos dois lances de escada, sentou-se ofegante na cadeira de balanço, tirando de outra sacola garrafas de água vazias enquanto cumprimentava sua filha, recém-saída dos afazeres domésticos, a responder ao pedido da mãe. “Ela vem pegar água aqui porque sua bomba está quebrada”, dizia Oyone. Eu e Ramón estávamos nas aulas de português e, quando chegou Caridad preenchendo o balbuciar desajeitado das tentativas de aprender um novo idioma, decidimos fazer uma pausa. “Haz un cafe Oyone, ya que Marcela he traído”, dizia Ramón, seu marido. O café, eu o tinha comprado no caminho que faço antes de chegar à casa deles; quatro pacotes de 115 gramas cada, no valor de 15 pesos em moeda nacional a unidade, na bodega administrada por um senhor complacente e que já entendia “como iba se poner mala la cosa”. Dei dois pacotes a Ramón, que estava sem nenhum; estes tornaram-se o café que tomávamos, quando Caridad diz:“El chisme este del corona vírus”. Chisme? Pensei. “Pero, Caridad, porque chisme?”. Em um tom eufórico, ela diz que no noticiário da noite anterior passou uma reportagem de uma “tienda estatal que se explotó”. “Que pasó?”, perguntei. Logo veio a resposta: uma “tienda” onde estavam superfaturando alguns produtos. “Chacha, el DTI bajó y cerró todo. Y allá simpre tenía cosas que ni tenia en las del shopping! La cosa se pone mala, mala.” “Y las colas malísima”, dizia eu. “Yo no me quedo en una cola de esas”, eles respondiam. “En Carlos III, la cola estaba llegando a tres cuadras, ahora están distribuyendo un ticket, o sea, no hay para todos y escuché que están llegando a las 4 de la mañana, es verdad?”, continuei. “Si, hija..”, me contestavam. Enquanto isso, Caridad tirava da bolsa de tecido africano pacotes de sal e óleo para dá-los a Oyone, ao passo que a conversa continuava sobre os insumos básicos. Estávamos em finais de março, foi quando outro interlocutor me disse que cancelariam o “Plante” de seu juego, ritual de iniciação Abakuá, já que todo evento qualificado como uma aglomeração de pessoas havia sido proibido. Foi nesse último encontro que ele me deu minha primeira máscara: “Para que te protejas. Cuidate!”, dizia. “Que sorte”, pensei. Poucos dias depois, o uso da mesma se tornou obrigatório nas ruas e nos ônibus, passível de multa caso não o fizesse. A vívida Havana rapidamente foi preenchida de silêncios e vazios. Hoje somente circulam veículos oficiais para a manutenção dos serviços básicos de alimentação, bancos e hospitais, o que impossibilita os reencontros devido a necessidade de transporte público. Nos pontos de acessos à internet, espalhados pelos parques da cidade, é proibido permanecer. As patrulhas passam com megafones pelas ruas: “Por favor, señores, atencíon a las medidas de securidad” e os noticiários divulgam as possíveis sanções por “propagación de pandemia”. O Estado, pela televisão, tranquiliza a população. Porém, algo ainda permanece: as imensas filas para conseguir itens extremamente básicos, como os de comida e higiene. As garrafas de plástico com “solución clorada a 0,1%” ou um pedaço de sabão são os primeiros itens na entrada de qualquer “tienda, bodega o agro”, seguidas por filas que evoluem de quadra em quadra, por pessoas que não se importam com sol, calor, horas de espera ou os controles policiais do Ministério do Interior pois, ao final, se espera levar para casa dois ou um item - de acordo com as regulações de produtos por pessoa- dos parcos produtos ofertados, quando ofertados. Nesse momento, Caridad já pegou suas garrafas de água – agora cheias- e um pouco de arroz com Oyone e Ramón, que me perguntaram se eu também queria: “No, gracias”, disse. “Tu lo sabes, se necessitas algo, llamame!” replicavam. Aqui, assim se dribla a crise; na ajuda mútua possibilitada nas relações entre amigos e sócios. “És que el cubano ya pasó por algo peor y estamos vivos, chacha”, diziam entre um ou outro muxoxo. “De hecho, yo creo que nunca salimos del período especial”, alguém deixou escapar. Talvez, “el chisme” do Corona vírus esteja aí; no reviver cotidiano de uma memória que parece nunca ter sido verdadeiramente parte dos reinos do passado, não nas questões da medicina que, mesmo com todas as dificuldades, nunca chegou a ser um problema factual. Marcela Andrade é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, UFRJ. Participante do Laboratório de Antropologia e História (LAH/PPGAS/MN) onde desenvolve uma pesquisa sobre Sociedad Abakuá, seus aspectos societais, práticas religiosas e suas confluências artísticas. Os comentários estão fechados.
|
AutoresAna Cláudia Teixeira de Lima, PPGHCS/COC/Fiocruz Arquivos
Novembro 2020
|