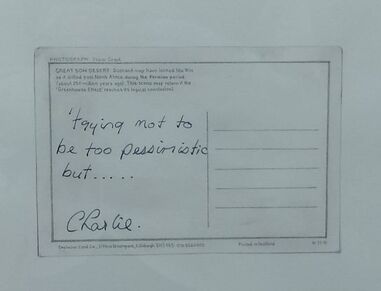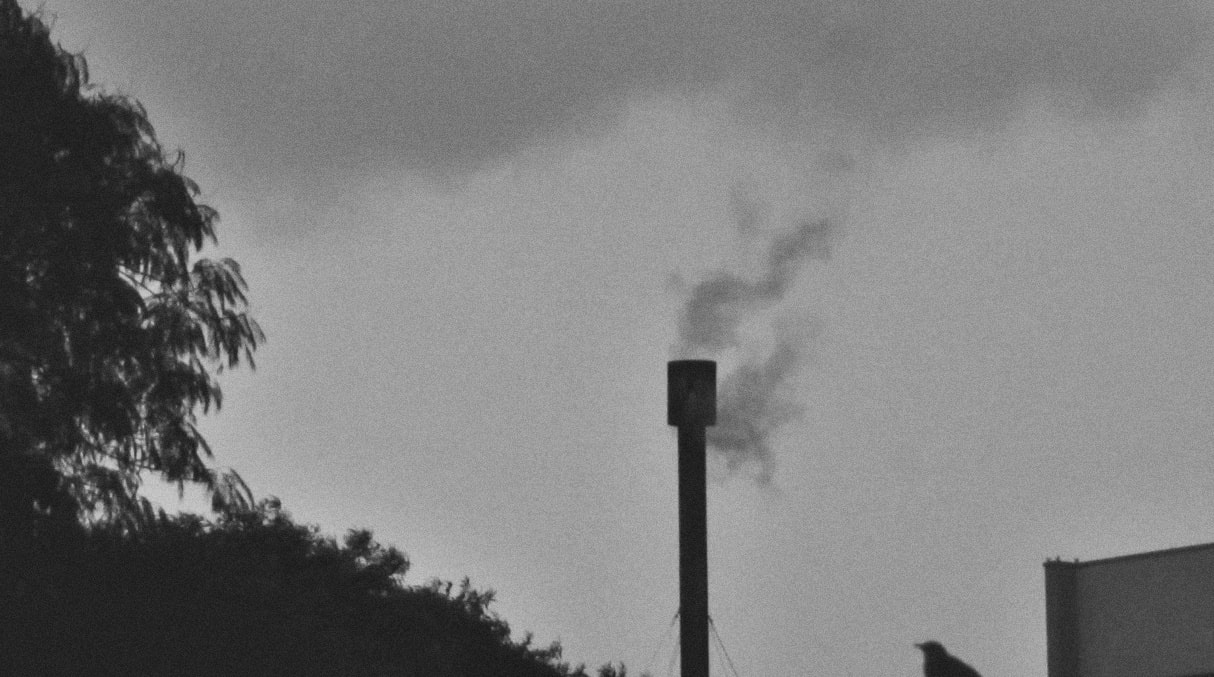Aldeia Terra Preta, "mata de defesa" (foto de Gabriel Soares, janeiro 2020). Aldeia Terra Preta, "mata de defesa" (foto de Gabriel Soares, janeiro 2020). Introdução O presente texto busca apresentar uma linha de tempo de como os Maraguá do Rio Abacaxis vivenciaram a pandemia do novo corona vírus durante os primeiros cinco meses de 2020. Os Maraguá são um povo arawak que reside no interflúvio dos rios Madeira e Tapajós, nos rios Abacaxis, Curupira, Urariá e Paracuni, estado do Amazonas, região dos municípios de Nova Olinda do Norte, Borba e Maués, respectivamente.[1] A prima da gripe No dia 20 de janeiro de 2020, uma lancha da prefeitura de Nova Olinda do Norte viajou até duas aldeias do povo Maraguá (São José e Terra Preta) localizadas no Rio Abacaxis. Lá, os funcionários da prefeitura ergueram uma placa informando a construção de duas escolas indígenas pelo município, com início naquela mesma data e término no dia vinte de março. Depois, os funcionários foram embora por duas semanas e... nada mais aconteceu. Por algumas semanas, os Maraguá se perguntaram o que tinha acontecido e se essa obra ia, de fato, acontecer. No início de fevereiro, um barco trouxe um grupo de trabalhadores para ambas as aldeias, algo que não foi inicialmente muito bem visto pelos Maraguá. Havia um desejo de que os próprios indígenas fossem contratados para construírem sua escola, algo que seria mais barato para o município e que ao mesmo tempo geraria uma renda para os moradores. Alguns conflitos, inclusive, surgiram acerca de quantos trabalhadores de cada família e de cada aldeia poderiam ser contratados. Foi em uma visita para discutir a contratação de seu filho para trabalhar na obra que o AIS[2] e cacique da comunidade Pilão me perguntou se salsicha era “carne de chinês”. Teriam mostrado para ele um vídeo de uma fábrica de salsichas na China onde os próprios trabalhadores serviam como matéria prima. Comentou que se é assim que os chineses fazem, deve ser daí que surgiu essa nova doença, esse tal de coronavírus. No início de março, e com a chegada da doença em Manaus, famílias que moravam em Nova Olinda começaram a se mudar para as aldeias. Esse foi um processo que se acelerou rapidamente quando as aulas foram canceladas no dia 10 deste mesmo mês, pois um dos grandes motivos que resulta na mudança de famílias Maraguá para a cidade é a necessidade de encontrar escolas para seus filhos, especialmente os adolescentes, já que o segundo grau é oferecido apenas em Nova Olinda. Na medida em que mais indígenas chegavam, a capacidade das comunidades de providenciarem alimentos começou a ser dificultada, já que muitos vinham sem as ferramentas necessárias para obter seu sustento (anzol, canoa, redes de pesca etc.), além de não possuírem roçados (algo que demora meses para abrir, e que só é feito entre julho e agosto). Pior, os primeiros meses do ano são conhecidos como o inverno amazônico (quando os rios sobem e transbordam suas margens), já sendo uma época de escassez. Porém, as normas de hospitalidade e reciprocidade levava a fome a ser distribuída de forma relativamente igualitária, já que, tão logo a farinha de uma família acabava, pegavam ‘emprestado’ de outra. No final de março, durante a noite de sábado, uma reunião foi chamada pelo cacique-geral, cujo principal tema era a pandemia. Após a discussão, duas decisões foram tomadas. Primeiro, todos iriam permanecer na aldeia e não viajariam mais para a cidade. Segundo, iriam solicitar que a obra parasse e os trabalhadores se retirassem até o final da pandemia. Nessa reunião também se tornou claro como, ao invés de termos como ‘Covid-19’ ou ‘novo coronavírus’, os Maraguá referenciavam-se à doença como ‘a corona’, considerada a prima da gripe. Como uma senhora Maraguá alertou para mim, “sai da chuva porque a corona é a prima da gripe”. Naquela mesma noite, três homens que estavam presente na reunião viajaram para Nova Olinda do Norte. O cenário de escassez combinado com a necessidade de receberem benefícios sociais regularmente os colocou em uma situação em que decidiram ser necessário fazer compras na cidade.[3] Uma semana depois, os trabalhadores da obra voltaram. O dono da empresa que realizava a obra havia prometido que todos os trabalhadores haviam feito o teste na cidade e que nenhum estava infectado com o novo coronavírus. Os Maraguá sabiam que isso era uma mentira, porque pessoas suspeitas de haver contraído a doença eram levadas até Manaus para serem testadas. Porém, o barco que trouxe os trabalhadores carregava um motor de luz que os Maraguá da comunidade Terra Preta haviam recebido mas nunca tinham conseguido transportar para sua aldeia. Sendo assim, fingiram acreditar. Na manhã do primeiro sábado de abril, um debate teológico ocorria dentro de uma igreja adventista da aldeia Terra Preta. Um senhor recém-chegado de Nova Olinda do Norte lamentava que as igrejas da cidade tinham sido fechadas e proclamava aos congregados que não temia esse vírus que estava se espalhando por aí e que caso alguém tentasse colocar-lhe uma máscara, a jogaria no chão, pois esse senhor tinha Jesus no corpo e ele o protegeria. Mais tarde, um outro senhor cautelosamente afirmou aos presentes que só porque tinha fé em Deus não iria parar de se resguardar, afirmando que só porque era crente não iria “virar de lado para um banzeiro”.[4] Já o indígena encarregado de pregar o sermão no serviço daquele sábado afirmou aos presentes que tinham muita sorte de ter a oportunidade de viver no final dos tempos. ‘A corona’ era mais um exemplo do poder da Bíblia de prever tudo o que está por vir. Como um Maraguá da comunidade Maruim me disse, elucidando um sentimento manifestado por muitos, “isso ai são as escrituras se realizando. O que está no Apocalipse. As visões de João”. No dia 20 de abril, o primeiro caso de coronavírus foi confirmado em Nova Olinda. No mesmo dia, uma fila de mais de quinhentas pessoas formou-se para receber o novo benefício anunciado pelo governo federal. O cacique do São José viajou até Terra Preta para conversar com o cacique-geral, e juntos mais uma vez exigiram que os trabalhadores se retirassem e que a obra fosse paralisada. A doença que começou na China, que matava mais de mil por mês na Europa e que tinha começado a matar em Manaus, também havia chegado no município. Ficou claro que os Maraguá concebiam a doença como uma frente, algo que começou no outro lado do mundo e que vinha se aproximando do Rio Abacaxis, e agora era necessário se isolar de novo. No domingo do dia 26 de Abril, os Maraguá fizeram uma comemoração tardia do dia do Índio, contando com a presença de moradores de todas as seis comunidades do Rio Abacaxis.[5] A comemoração também serviu como despedida para os trabalhadores, que concordaram com a paralisação da obra. Estes, inclusive, participaram de algumas das competições, como a corrida carregando toras de madeira e a luta piãguá.[6] Quando perguntados que clã representavam, responderam jocosamente que eram do “clã da construção”.[7] Um barco madeireiro tentou passar pela comunidade enquanto a comemoração ocorria, o que levou o cacique geral a convocar os presentes para irem juntos pararem a embarcação. Usando o barco da obra, os trabalhadores junto com os indígenas abordaram a embarcação pesqueira e exigiram que voltasse, algo que foi interpretado pelo cacique do São José como uma intervenção divina (os madeireiros ter tentado entrar justamente quando estavam todos reunidos na mesma aldeia). Ao anoitecer, um dos empregados da obra, ao embarcar, proclamou ter sido uma honra ter trabalhado nessa comunidade. Uma semana depois, no início de maio, os trabalhadores estavam de volta. O dono da empresa teria ficado contrariado com mais uma paralisação e estava determinado a terminar a obra, que já estava atrasada. O empresário argumentou que, sendo 2020 um ano eleitoral, a obra precisava ser encerrada até o mês de junho, então não havia mais como esperar passar a pandemia. Mais uma vez, afirmou que os trabalhadores todos tinham sido testados, porém, dessa vez, os indígenas estavam muito menos dispostos a acreditar na mesma história. O barco carregando os trabalhadores chegou de noite de forma inesperada, e uma discussão acirrada começou entre os Maraguá da comunidade e os empregados da obra, que afirmavam estarem apenas seguindo as ordens do seu patrão. O mesmo senhor Maraguá que havia pregado o sermão sobre a felicidade de viver no final dos tempos desatou a corda do barco da obra,[8] porém um confronto físico foi evitado. Nesse dia, porém, o cacique geral não esteve presente para conversar com os trabalhadores. Quando o primeiro caso foi confirmado em Nova Olinda do Norte, ele, junto com vários membros de sua família, começou a criar uma nova comunidade em um igarapé chamado Mereré.[9] O Mereré fica mais acima no curso do rio Abacaxis do que qualquer outra comunidade, ou seja, é mais distante da cidade do que qualquer outra comunidade já existente. Quando conversei com o irmão do cacique geral, este disse que é exatamente isso que os seus antepassados fizeram quando foram escapar da Varíola e depois do Paludismo. Isolavam-se e se distanciavam espacialmente da doença. Epidemias são com frequência descritas como existindo em uma espécie de contínuo, como se fossem novas iterações do mesmo ente e não patologias discretas. Sendo assim, agora iam fazer como os antigos fizeram e se isolar mais uma vez. No dia 7 de maio, o primeiro óbito por COVID-19 foi registrado em Nova Olinda do Norte. Muitos dos jovens e adolescentes que haviam saído para cursar o segundo grau ou faculdade em Manaus não conseguiram voltar devido aos municípios terem paralisado o trânsito fluvial de passageiros. Muitos destes começaram a contrair a doença, e pais preocupados tentavam se comunicar com seus filhos por meio de alguns poucos pontos de internet via satélite. Uma lancha da prefeitura apareceu para fiscalizar a obra no Terra Preta, o que provocou uma corrida dos moradores para longe da beira do rio, gritando que deveriam evitar aglomerações. Nesse mesmo período, algumas pessoas nas aldeias do Maruim, Pilão e Kãwera começaram a reclamar de uma virose que estaria infectando-os, mas que não acreditavam ser ‘a corona’. No dia 29 de maio, dois indígenas da aldeia São José em estado grave foram levados para Nova Olinda do Norte. Ambos os casos foram confirmados como infectados pelo novo coronavírus. Pelo mesmo nesses casos, a virose transformou-se em ‘a corona’, e logo foi constatado que virtualmente todos os habitantes do Maruim e São José estavam infectados. Durante a semana, mais quinze Maraguá chegaram da cidade somente na aldeia Terra Preta, enquanto três famílias saíram da mesma rumo ao Mereré. Algumas vezes escutei comentários sobre a ironia da situação em que se encontrava a obra. Após anos exigindo uma escola indígena do município, justo agora, quando a construção estava quase terminada, estavam todos abandonando a aldeia e se isolando rio acima. Na manhã do dia 30 de maio, após o culto em sua igreja, indígenas da aldeia Terra Preta improvisaram uma rápida reunião. Foi proposto criarem uma aldeia somente para idosos, para quem levariam comida regularmente e nenhum contato seria permitido. Os idosos, porém, não se demonstraram muito alegres com a ideia de uma quarentena indefinida. O mesmo senhor que havia feito a metáfora sobre não virar sua canoa de lado para um banzeiro refletiu com os outros sobre como esse vírus tinha começado de tão longe, lá da China, e estava chegando cada vez mais perto. A razão para isso seria a descrença, não tanto em Deus, mas naquilo que todos sabiam que deveriam fazer. Teimavam no erro e agora ‘a corona’ chegou até eles. Conclusão Enquanto espero o barco da construção vir (pois ele se tornou minha única forma de egresso do rio Abacaxis, uma vez que o cacique geral mais uma vez exigiu que nenhum Maraguá fosse para a cidade), venho refletindo naquilo que disse esse senhor. Múltiplas vezes os Maraguá tentaram fazer aquilo que era dito para eles ser o ‘certo’: tentaram impedir viagens à cidade, paralisar a obra e agora estavam mais uma vez isolando-se rio acima. Porém, essas iniciativas não eram vistas como prioridades absolutas; eram flexionadas pelas circunstâncias em que se encontravam (o motor de luz, a fome etc.). Não desdenharam do perigo da doença; ao contrário, concebem-na como a mais nova manifestação das epidemias que vêm dizimando seu povo ao longo do tempo, enquanto também a consideram como evidência do fim do tempo. As escolas estão quase terminadas. Resta saber se ainda haverá alguém morando por perto delas. Gabriel Soares, no segundo ano de doutorado no PPGAS/MN, realiza pesquisa junto ao povo Maraguá, que vive em seis aldeias no rio Abacaxis, próximo ao rio Madeira, estado de Amazonas. Gabriel se propõe a escrever uma etnografia exaustiva e inédita dos Maraguá, grupo indígena que reivindica o reconhecimento de sua identidade e de seus direitos territoriais. [1] Esse texto foi redigido durante minha estadia em campo entre os Maraguá do Rio Abacaxis ele infelizmente carece de referências bibliográficas. [2] Assistente Indígena de Saúde. [3] O benefício do programa Bolsa Família requer que o recipiente acesse o valor periodicamente. Caso o beneficiado passe um período de mais de dois meses sem o acessar, o benefício é interditado. [4] Banzeiro é um termo regional para uma ventania, correnteza ou maré. Virar de lado para um banzeiro coloca a embarcação em risco porque o ângulo perpendicular aumenta a chance do barco ou canoa capotar. [5] Terra Preta, Kãwera, São José, Pilão, Maruim, Santa Terezinha. [6] O piãguá envolve dois círculos concêntricos; o objetivo é ou empurrar o oponente para fora do círculo ou jogá-lo de costas para o chão. [7] Clãs não são mantidos por todos, mas em termos gerais os Maraguá se dividem em oito clãs preferencialmente matrilineares: Sucuri, Onça, Lontra, Gavião, Vespa, Boto, Peixe-elétrico e Mutum. [8] Desatar a corda de um barco (ou de uma rede) é como o gesto de recusa de hospitalidade por excelência entre muitos povos Amazônicos. [9] Igarapé é um afluente de um rio principal. Por dentro, Vejo uma linha. Pesco a ponta e sigo no lento. Um baixo que passeia nas minhas entranhas, Quase sanguinolento, de baixo pra cima, desenha todas as façanhas, Do infinito grave convoco minha mulher menina. De dentro pra fora, Emerge sem entrave, Faz do flow escola, antes que esse mundo se acabe! Vai ter churrasco no Planalto, para celebrar os saldos das perdas invisíveis ao fascismo, que trocou o verde oliva pelo rosa e salto alto. Nossas costas são largas, Carregamos nelas tudo o mais e a morte, Não esqueceremos, Que nos deixaram à sorte. Que esnobaram um pseudo “atleta” Sobre um povo que tem a saúde como infinita: fila de espera! Revejo a linha, (Re)pesco, tropeço, Falta respirador, Quase alcanço a ponta, Afogo-me ao lembrar, Fico tonta, Não estou no mar, Vidas esperam sozinhas a partida sem tato, Quem será o próximo rosto (conhecido ou não) A ter enterro sem abraço? Consolo à distância, Como faço? Em qual absurdo mergulhamos, me diga? Não foi o da loucura, antes fosse! Estamos na mão de um genocida! Lá fora lockdown e aqui dentro, expropriada, nua, Sem poder incendiar a esquina, Chama o Tranca-Rua! Contra tudo isso habitamos nossas fortalezas, Construções sensíveis, Ontologias que a intolerância não conseguiu acabar. Universo de destrezas, Cujo som não puderam silenciar: A linha, o baixo, o tambor, o caminho. Natália Carvalhosa vive na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É antropóloga e Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, UFRJ. Atualmente realiza sua pesquisa junto aos refugiados da Guerra Síria que trabalham com comida em São Paulo. Utiliza-se da poesia, fotografia e música como formas de expressão. E-mail para contato: [email protected] Sobre a dificuldade de manter a esperança - [Thayná Soares de A. Vieira, PPGHCS/COC/ Fiocruz]28/5/2020
Há pouco mais de dois meses atrás, quando foi decretada a quarentena, me lembro que, sendo otimista, pensei “vai passar rápido, deve durar um pouco mais de um mês, no máximo” e decidi que tentaria manter minha rotina ao máximo. Acordar cedo, ler, estudar. O despertador tocava e eu logo me levantava, me arrumava, em alguns dias passava até um pouco de maquiagem para me manter animada. Eu, aluna nova do PPGHCS só tinha tido uma semana de aulas, estava empolgada por estar começando algo que almejei tanto. Entretanto, os dias foram passando, os números foram aumentando, se tornando rostos conhecidos e com isso levantar com o toque do despertador era mais difícil.
Entre praticamente tomar banhos de álcool em gel e estar longe de quem se gosta, presenciar todos os dias o presidente da república esbravejar contra o isolamento social e ver que tem deixado cada vez mais claro que sua resposta à pandemia não é apenas mero negacionismo, mas sim a morte da população pobre como projeto político,tem deixado tudo mais indigesto pra mim. Entrei para o mestrado com um projeto que visava tratar de medidas eugênicas no Brasil, então, quando vejo o atual presidente dizendo “que morram os vulneráveis” pois 70% da população pegaria o vírus mesmo, é muito doloroso. Isso é pior do que apenas negar a ciência: é uma linha de raciocínio muito cruel que vem me causando ansiedade e deixando pesado demais até mesmo estudar aquilo que me propus. É como presenciar um passado trágico que nunca deveria ter acontecido, que nunca deveria se repetir. Como aluna de um programa de pós graduação em história da ciências assistir esse descaso com a ciência tem sido difícil e tem tornado complicado manter a esperança vendo tanta gente defender essa crueldade em favor de se manter a economia, enquanto estamos preocupados em casa e com saudade das pessoas que amamos. Acredito que seja bom compartilhar essas angústias, para notarmos que mesmo distantes, não estamos desacompanhados e sozinhos, que podemos manter nossas redes de apoio mesmo em meio a toda essa loucura que nos faz a cada diz ter que reinventar e ressignificar as formas de se estar junto, de demonstrar afeto. É bom compartilhar o que sentimos e ver que ainda existem pessoas que se importam, que não compactuam com a crueldade. Estamos cansados, com saudades. É tudo tão estranho. Nos resta apenas tentar atenuar a falta que o contato humano nos faz através da tecnologia. Tentar nos manter fortes. Tentar nos manter esperançosos. E acreditar. Acreditar que tudo isso vai passar e vamos poder voltar a normalidade do encontro com os amigos, dos abraços, da vida como deve ser vivida e que nos foi de certa forma roubada. São Gonçalo, 23 de maio de 2020 Thayná Soares de A. Vieira. Mestranda em História das Ciências e da Saúde do Programa de PósGraduação da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Atualmente estudo as propostas de exames pré-nupciais enquanto uma medida eugênica de controle matrimonial no Brasil no período de 1914-1934. Email: [email protected]. Já tenho quatro meses em um lugar estranho,
Estranho porque não estou em meu lugar, Lugar que traz a tranquilidade das minhas origens, Onde lembro que um dia me abriguei! Esse tempo que aqui estou passando me fez voltar a minha infância, ao lembrar de um lugar que só eu sei. Só buscava esse lugar por medo, um buraco de barro que sempre trazia um esconderijo, Esconderijo que abriga alguém sem lugar, Lugar onde encontrei segurança como minha única opção. Opção a que o medo me empurrou. Medo de um barulho estranho vindo de algum lugar, Lugar que não tinha nome, porque não se tinha uma direção. Ouvia-se um barulho estranho, como o zumbido de uma colmeia de abelhas. O que será? pensando em um zumbido violento como o do trovão! Lembro como se fosse hoje. Era de um avião imenso que passava em cima de um rio, Um zumbido grave estranho parecendo roubar violentamente o espírito de alguém. Alguém precisou estar bem encolhida como se estivesse dentro do ventre. Terra amarelada, com raízes de açaí e folhas de ingazeira miúda. Miúda, mas dava sombra às crianças que tomavam banho de rio. Rio violento na época da enchente, Enchente trazendo doenças do mundo para aldeia, Aldeia cheia de famílias indígenas que não sabiam o que estava por vir. Vindo de um lugar também sem direção, o que será que vinha? Vinham doenças que causavam desconfortos aos corpos, Corpos que não sabiam expressar a dor dentro de um corpo. Corpo que alojava um vírus estranho. De tão longe sem ter nenhum buraco de terra para se esconder, Esconder não era opção que tinha, porque a terra estava coberta com algo estranho, Estranho parecendo couro de Sucuri. E a angústia de estar dentro de um lugar inseguro, frágil E medo de ser engolida por um vírus fantasma sem identidade. Vírus que me trouxe dias sem dormir com medo do amanhã, Amanhã que talvez não poderia existir, porque não pertence a mim. Não pertencendo a mim, procurava me encolher dentro de uma parede, Parede que me traz uma certa insegurança por ser um lugar aberto. Esse lugar aberto me causou muitas dores da perda, Perda de amigos, conhecidos, parentes, vizinhos, familiares. E hoje o que nos resta? Restam cacos, pedaços de cerâmica deixadas à beira do caminho, Caminho parecendo não ter fim, impedindo a volta às minhas e nossas origens, Origens não só de aldeias, mas da vida de muitos que esperam com ansiedade. Isabel de Oliveira Dessana é antropóloga e Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, UFRJ. Pesquisa sobre as tecnologias digitais e de mídias sociais e suas influências aos povos indígenas do Alto Rio Negro, desde a sua introdução na região. Investiga como os afetam e quais suas vantagens e desvantagens, seja no campo social, político, educacional, cultural e econômico. Completando três meses e alguns dias nessa quarentena interminável, após mergulhar a cara nas mídias sociais para me informar ao máximo possível sobre os últimos acontecimentos nesta cidadezinha pacata do interior do Amazonas, nas confluências da tríplice fronteira, onde ainda me encontro devido ao surto da pandemia do Covid-19 no Amazonas, e principalmente em todo o trapézio amazônico, penso sobre essa doença que atinge grande parte da população urbana e principalmente os povos originários que habitam essa região, como os ribeirinhos, e também as comunidades tradicionais não indígenas, que se localizam às margens dos rios Solimões e javari. A situação se agrava diariamente, com informações de mais casos confirmados, em sua maioria destas populações, que sofrem com a falta de estrutura médica e social nesta área que está sendo arrasada pelo covid-19. Ia eu fazer minha pesquisa de campo numa aldeia Ticuna de outro município vizinho, mas só fiquei a ver navios, ou melhor, usando-me de um termo mais regional, só fiquei de “bubuia”, pois não posso sair até que toda essa situação seja reparada. Logo no início, quando cheguei aqui nesse “fim de mundo”, também pensei como a maioria dos conterrâneos da tríplice fronteira, que essa doença não iria nos alcançar e que, se chegasse, não seria com tanta força. Fazer o que, foram tomadas medidas tardias demais, pois as autoridades competentes demoraram muito em decretar lockdown. Depois de me convencer de que realmente era necessário alertar as pessoas da gravidade da situação que estava se aproximando, tomei a liberdade de falar com o máximo de pessoas vindas do Peru e Colômbia para evitarem transitar de forma constante nos rios. Mas para compreender por que até este momento o fluxo de idas e vindas dessas pessoas ainda está acontecendo, mesmo com todos os decretos e medidas tomadas pelos municípios e adjacências, faço aqui uma reflexão em poucas linhas, passo a passo. Fonte: arquivo pessoal. Cumprindo a quarentena ao lado dos meus, torcendo para que os dias tenebrosos passem logo. Hoje me encontro preso em casa sem saber ao certo como estão essas pessoas que são parte de mim, ou, como dizemos na nossa língua, dau'cuenacüãgü (os de cima), e dói saber que as políticas públicas, de quem tanto enchem a boca para falar em tempos de política não estejam adiantando quase nada numa tentativa de conter um vírus que já está por toda a tríplice fronteira e que infelizmente chegou com muita força entre as populações originárias do famoso “pulmão do mundo”. As prefeituras municipais, juntamente com outros órgãos competentes, como a Policia Militar, Guarda Civil Municipal, Exército (“braço forte, mão amiga”), Aeronáutica, Marinha e também o famoso Dsei (Distrito Sanitário Especial Indígena), têm tentado conter “a todo custo” a propagação desse inimigo invisível, que a maioria no início estava tratando como uma “gripezinha", assim como nosso próprio governante afirmou em seu discurso. Muitas aldeias e comunidades ribeirinhas abandonadas à própria sorte por não ter uma assistência correta, ainda pedem para que essas mesmas pessoas fiquem em suas casas e parecem se esquecer de que essas pessoas necessitam, todos os dias, sair bem cedo de suas casas para buscar algo para dar de comer aos seus filhos e familiares. Quando não é isso, têm que se deslocar para os centros urbanos atrás de insumos que não existem nas aldeias, como açúcar, sal, laticínios e materiais de necessidade básica que só se encontra nos municípios, já que nem todos conseguem ser contemplados com as cestas básicas, pois há lugares de muito difícil acesso, e infelizmente nem todos são alcançados. E como esperar pelo governo na maioria das vezes é perda de tempo, acaba se tornando necessário vender sua força de trabalho em troca de ter o que comer no dia seguinte. Precisam trocar primeiro seus produtos por cédulas de papel para poder comprar o que precisam, mesmo com os preços abusivos que os patrões estão cobrando em seus estabelecimentos. Afinal de contas, aqui já estamos vivendo em cenários de filmes de ficção cientifica sobre o fim do mundo, em que quem tem oferece, e quem não tem “se vira nos trinta”, pois agora é tudo pela demanda e oferta, e não se pode deixar o capitalismo morrer. Não há para onde correr: ou se morre de fome ou de coronavírus. Não há muita escolha, já que nas aldeias a produtividade das roças e chácaras não tem sido mais em grande quantidade como antes e não se tem mais tanto peixe ou animais de caça em abundância, como antigamente. Mas agora já há “ajuda” do governo – pelo menos é o que dizem. Fonte: foto registrada por um funcionário publico, de aglomeração permanente no porto de Tabatinga – AM, município que faz fronteira com Leticia – AM, Colômbia. Pensou-se em oferecer, como sempre, “migalhas” para toda a população para acalmar os ânimos das “minorias”. Como sempre, oferecem-nos “pentes e espelhos". Chegado o dia de receber o “auxílio emergencial” (auxílio paletó de madeira), o que se presencia são filas enormes que dão do início da porta da única casa lotérica que existe no município até as ruas que dão acesso ao mesmo, e se encontram citadinos e ribeirinhos disputando por uma vaga para poder botar a mão na grana que vai ajudar a tirar a barriga da miséria por alguns dias, se for usada corretamente. Como de costume, o fluxo das populações nativas é constante nos município. Se há algum auxílio ou promessa de ajuda de políticos ou de acesso a algum benefício, chega-se a contagiar todos, atraindo-os cada vez mais às áreas urbanas de grande proliferação da doença. Entre risadas e brincadeiras, ouve-se “só quero garantir o meu" da parte dos “civilizados”, que ainda não se convenceram da seriedade da situação, mesmo com algumas mortes já confirmadas por coronavírus. Debaixo daquele sol escaldante, aglomeram-se quem mais foi afetado com isso até agora, nós ticuna, e também nossos parentes Kokama, entre outras etnias que vivem às margens dos rios. Tais populações já perderam vidas pelo contágio do coronavírus por não cumprimento de decretos sancionadas pelas autoridades pedindo para que se aquietem em casa, pois são um “bando de selvagens” mesmo, que não sabem obedecer os decretos municipais – são os discursos de alguns que estão na linha de frente. Pensassem eles como é difícil trabalhar com “parentes", pois cada um tem sua especificidade, devido a diferentes formas de contato no passado e também por ser um fato inédito para eles, pois muita gente ainda nem sabe sequer como lidar com tudo isso. Onde está o atendimento diferenciado? É só mais uma falácia, pelo visto. Não tem sido diferente nos municípios vizinhos, com aglomerações constantes nos portos, nos estabelecimentos comerciais e, principalmente, nas agencias bancárias, lugares que viraram os piores inimigos para a saúde das populações amazônicas, contribuindo ainda mais com o número crescente de infectados e causando mortes aos montes. Fonte: TV Fronteira O Tambaqui. Imagem do primeiro dia da população realizando o primeiro saque do Auxílio Emergencial, no município de Benjamin Constant – AM. Isso me levou a pensar numa outra medida que parecia resolver o problema da maioria dos estudantes brasileiros, já que não se sabe quando vamos poder voltar para as salas de aula. Ofereceram então aulas online, educação a distância e tal, coisa que não é novidade para ninguém que vive próximo a uma grande metrópole ou pode se dar o luxo de acessar uma boa rede de internet. Talvez faltou um pouco de, ou muita, aula de geografia aos nossos “representantes”. Será que eles se esqueceram de que estamos no “fim de (o) mundo”? Mal sabem eles que aqui as coisas funcionam a passos largos, na mesma velocidade do andar de um jabuti. Alguns lugares nem sequer escola têm, quanto mais acesso ao mundo globalizado. Durante os anos que acompanhei alguns trabalhos da FUNAI (Fundação Nacional do Índio), me deparei com uma realidade que os municípios tentam esconder, e que maquiam muito bem para que no final do semestre saia tudo perfeito com todos os alunos aprovados. Situações que ainda permanecem ate os dias atuais. O acesso à informação ainda se dá através do deslocamento dessas populações aos centros urbanos, visto que ainda não há redes de comunicação próxima, e isso dificulta ainda mais saber o que e como estão ali do outro lado e quais medidas já foram tomadas. Tem-se feito pouco caso, sem diferença alguma de onde me encontro. Por outro lado, o fanatismo religioso entre as populações indígenas também tem causado muitos malefícios no meio de muitos. É certo que a forte atuação da Igreja Mundial do Poder de Deus entre o povo ticuna tem contribuído com a rápida proliferação dessa doença em todas as áreas onde habita o meu povo. Foi noticiada nas mídias uma ocasião em comemoração ao dia das mães, em que se encontravam pessoas oriundas da tríplice fronteira. Pois o mesmo pastor dessa igreja convenceu a maioria dos ticuna que isso é uma doença só dos “brancos", e que quem tiver Deus no coração não irá passar por essa provação. E a situação segue presente até o momento. Onde estão nossos “defensores" quando mais precisamos deles? E onde nós nos encontramos em tudo isso, quando o caldo está cada vez mais engrossando para o nosso lado? A resposta é simples: no mesmo lugar onde sempre estivemos desde o início da conquista destes territórios, em último plano, pois assim como as vidas dos “favelados” nos grandes centros urbanos, nossas vidas valem menos do que a deles (tomagü). Teria sido bom se nunca tivessem chegado aqui, assim não estaríamos tendo nossas vidas sendo ceifadas por doenças que não são do nosso mundo. Lembrei-me das histórias que meu falecido avô me contava sobre alguns males que eles vivenciaram no passado, quando eles tinham que se isolar nas áreas mais longínquas possíveis para se abrigar e se proteger. Talvez era o que eu devia ter feito logo no início, mas infelizmente os tempos agora são outros. Talvez seja essa “a queda do céu” de que o parente Davi Yanomami havia nos alertado, ou a terceira guerra mundial. Já vejo cruzes em algumas portas, boatos de feijões mágicos que curam, cabelo encontrado em bíblia como formas de se salvar e até anúncios do apocalipse nas bancas de gasolina. E meu povo, como sempre, tentando ir atrás de um salvador que ainda não chegou, desde o dia em que ele levou consigo o mundo encantado, onde tudo era possível somente com a força das palavras, e nada se conhecia de doença dos alienígenas que aqui chegaram e nos fizeram brasileiros, peruanos e colombianos, e que dizem que todos estamos no mesmo barco. Talvez a canoa esteja cheia de furos e faltando estopa para calafetar as brechas. Ouvimos notícias de que há gente atravessando as fronteiras só para espalhar a doença. Não sei até que ponto chegam a ser reais estes boatos (mas tudo é possível). Noticiam casos confirmados em agentes da frente de combate, que seguem trabalhando assim mesmo, oferecendo mais risco ainda à própria vida e à dos demais. Vivemos em uma negligência total de nosso direito pela vida e numa total idiocracia. Fonte: Arquivo pessoal: Na foto, trânsito diário de pessoas no porto de Leticia – AM (CO), quando a necessidade fala mais alto do que o medo de ser contaminado pelo covid-19. Hoje de manhã, enquanto ainda escrevia, me vem a notícia de que na aldeia da minha família materna, no Peru, sofremos a primeira perda de um tio meu que, na ultima vez em que estive de visita na aldeia, encontrava-se em ótimas condições físicas e mentais. Com a idade já meio avançada, sendo classificado como pertencente ao grupo de risco, veio a óbito, e os outros também se encontravam doentes, como minha vozinha querida, mas me alegrou saber que já estavam se recuperando, com tratamento das nossas próprias medicinas da natureza. É necessário que o trabalho de formiguinha não pare. Eu, daqui; você, daí, vamos conscientizar nossos próximos, principalmente nossos anciãos, para que no amanhã tenhamos com quem aprender, para seguir ensinando nossas histórias às nossas futuras gerações, que nem fazem ideia, na maioria das vezes, do que está acontecendo no mundo. Queria eu que tudo isso não passasse de um sonho, mas todo dia, quando acordo, deparo-me com mais notícias pesadas para qualquer ser humano, principalmente quando as noticias se referem ao povo ticuna, do qual faço parte. A sensação de revolta é maior que a de dor, pois não se sabe ao certo se os recursos que foram liberados para atender a essas populações em fase emergencial, como o meu povo, estão sendo de verdade aplicados. Mas uma coisa é certa: como dizem meus mais velhos, “quando a gente magüta desaparecer, o mundo inteiro irá se acabar”. Fonte: Arquivo pessoal. Cuidemos das nossas crianças, pois a esperança mora nelas.
João Ramos é antropólogo ticuna e mestrando. Faz pesquisa sobre as perspectivas cosmológicas e ritualísticas do povo magüta (ticuna), na região de tríplice fronteira, povo ao qual pertence. Cara amiga,
Você lembra da última vez em que a gente se viu? Num boteco qualquer, sem prestar nenhuma atenção para quantas pessoas cabiam ou não na rua, se havia a distância de dois metros entre elas, passamos horas falando, decifrando, comentando, acusando. Faz muito tempo que não falo assim. Tenho a impressão de que a contradição entre o quanto falávamos, esperando o dia amanhecer, e a escassez de opções e asseio do boteco fosse proposital, como se o lugar falasse: oferecemos pouco para que vocês encontrem muito – conversem. Foi em bares assim que fortalecemos nossa amizade e colecionamos palavras, conceitos, críticas, posições. Agora que nós mesmos nos tornamos escassos, as palavras parecem minguar. Lembro com carinho os movimentos da mesa; uma dança de mãos e gestos que carregavam palavras para vislumbrar o contorno do mundo e dos seus movimentos. Entre uma reflexão informal e xingada sobre o que há ou não há, ou o que deveria existir, as mãos gesticulavam, pediam um isqueiro; ou alguém puxava o pacote de tabaco, ou tirava mais um cigarro do maço, que invariavelmente sempre estava acabando. Claro, toda essa série de movimentos, como tantas outras coisas, foi varrida pela pandemia. No intervalo de poucas semanas, entramos numa nova configuração das coisas, dos discursos, dos medos, principalmente dos movimentos, os quais só consigo identificar como: isso tudo aí. Você perceberá a ironia, imagino. Junto com aquele mundo que se foi, parece que se foi também a linguagem para descrevê-lo. Virei mudo, amiga. Não consigo discernir o mundo que está tomando vulto e o mundo de antes parece ter sumido sem nem um suspiro. Treinado anos a fio para (um dia, nos diziam) ser pago para falar sobre o mundo, percebo que não sei mais falar dele. Tomado por uma certa afasia fenomenológica, a minha escrita sobre o que está acontecendo tenta tomar outras formas, mesmo se precárias e cambaleantes. Tenho ao meu lado um diário, no qual, entre outras coisas, anoto meus sonhos. Agora, são marcados pela sensação de um retorno constante – permeados por ameaças físicas ou pelo reencontro com antigos amores, sempre acordo deles com o medo de que estou recebendo uma mensagem extraordinária, mas indecifrável. Às vezes acordo e, olhando para as mãos raladas de tanto serem lavadas, penso, “ah, então esse aqui sou eu”, como se, junto com a desconfiguração do mundo, eu também fosse perder meu contorno. Ou talvez eu finalmente esteja apreendendo minha própria forma – como diz o Evangelho, “os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou...” Escrever no diário, sempre uma atividade noturna, acompanha outros rituais cada vez mais sussurrados. Vou para a varanda e fumo um cigarro. Sem camiseta, sento na cadeira da varanda, satisfeito de poder sentir a chegada do inverno e da seca. Seguro a respiração e tento ver se meu fôlego está bom. Logo depois, penso na ironia que é querer encarar uma doença respiratória fumando. Às vezes, rio sozinho. Tomo esse tempo como minha prece final do dia. Às vezes, falo; às vezes, não. Tento me ater ao conselho de Yamamoto Tsunetomo: “Deve-se meditar sobre a morte inevitável diariamente.” Tento me imaginar dentro daqueles sacos plásticos pretos, ou em caixões jogados numa vala comum, aterrados no lodo tropical de alguma cidade brasileira. Olho para fora e espio as constelações que ainda reconheço. O Escorpião está lá, por cima do prédio, e ainda consigo ver a pontinha do ferrão dele. Enquanto o cigarro queima, também viro para minhas plantas, entre as quais as mais novas são os alhos que brotei num copinho de água. Converso com eles, com as duas orquídeas. Arranco a pontinha de uma das folhas do alho e boto na boca. Percebo que também tem gosto de alho. Coço a barriga; acho que engordei. Tudo terminado, entro para dentro, escovo os dentes, deito-me. Uma noite dessas sonhei que estava numa cachoeira lá na chapada. Como outras que temos por aqui, essa também era feita do encontro de pedra bruta, cor de ferro e ocre, com a água gelada e antiga do cerrado. E em volta dessa comunhão antiga crescia a aroeira, a canela-de-ema, o chapéu-de-couro, a lobeira; nos galhos e nas copas, cantava o melro, o tico-tico, o canarinho-da-terra e o joão-de-barro. Tinha me afastado dos meus amigos e estava nadando numa seção do rio que era fechada pelos cânions de rocha. Eu olhava para os cantos, buscando sinal de atividade ou de presença humana e não encontrava nenhum. Deixando aquela água escura, cor de chá de barbatimão, levar-me por entre os paredões, imaginava ser o primeiro, ou talvez o último, ser humano a passar por lá. Naquele mundo mudo e surdo de fala de gente, eu dizia uma prece qualquer, introduzia uma voz humana no meio daquele borbulho primeval e depois ia embora. Ele voltava a ser silencioso de novo. De alguma forma, parecia ser uma redenção não ter que fazer sentido de um mundo, poder entregar seu início e fim para outras forças, outras criaturas, outro tempo. Ao contrário de hoje, em que o momento nos urge à ação, mas estamos presos em casa. Amiga, como são tristes nossos tempos! Que monstros são esses que nos atacam? Juro que se tivesse alguma resposta para isso, estaria escrita aqui. Mas não tenho. De qualquer forma, talvez seja bom por enquanto nos mantermos no silêncio. Acho que são impacientes aqueles que condenam o silêncio à apatia. Prefiro pensar que ele é, em parte, o início de uma grande greve espiritual da nossa geração. Estamos nos retraindo para as paisagens arruinadas dentro de nós, territórios abandonados a fio enquanto o mundo zumbia lá fora. Olhando bem agora, que temos um pouco mais de tempo, você não se lembra de como antes estávamos cansados? De como vivíamos em meio a um colapso mas era proibido – pelo otimismo desesperado de alguns, pelo cinismo de outros – chamá-lo pelo seu nome? As coisas estavam bem antes? Não, não estavam. Este momento de crise nos impele a uma decisão. Dois mil anos atrás, no canto do maior império que a Terra já tinha visto, um homem chamado Jesus decidiu passar quarenta dias no deserto. Sabia que no deserto as legiões não o alcançariam. Lugares assim geralmente rechaçam a arrogância imperial. Lá, como Moisés no Sinai, buscou falar com Deus e purgar-se de suas fraquezas. Foi tentado pelo Demônio, que o ofereceu, acima de tudo, um novo império. Sábio e forte, Jesus negou a oferta, ciente de que no final, até um imperador torna-se sacrifício para a fome de um Leviatã. Como o Mestre, também vivemos no fim de algo, amiga. Assim como ele, também estamos num deserto, numa quarentena física e espiritual. Então agora seria uma boa oportunidade para nos despirmos de toda a armadura que deixamos crescer em volta das nossas almas. Como tanto tempo atrás, naquele canto esquecido do império romano, surgem vozes do deserto, e que ressoam dos interiores esquecidos, das planícies abandonadas. Antes fracas e distantes, hoje elas são mais numerosas e próximas. Dizem: “o tempo de Roma se está acabando”; “o reino de Deus está próximo”, “este século não passará”. Nem todas são amigáveis, e no deserto vivem tanto profetas quanto charlatões. Caberá a nós, em silêncio ou no grito, decidir quais vozes ouvir. Até lá, talvez o tempo quieto, que contraria o ruído da transmissão ao vivo do desastre, nos lembre daquilo que é fundamentalmente bom. Pois Deus fala no quieto. E ele diz: “filhos, a Terra é a sua mãe, e ela é bela”; “dividir, multiplica”; “num pôr do sol, no canto sonâmbulo de um bacurau ou num dia passado junto com um amigo, nessas coisas mesmas brilha meu Reino; ele está distribuído pela Terra, mas os homens não o veem mais”. Espero que estas palavras lhe tranquilizem. Termino esta carta contando outro sonho. Como o Reino do Criador, é um sonho que tem mil formas e que viceja sobre toda a Terra, dentro e fora de nós, inundando nossas almas de alegria toda vez que vivemos a liberdade. Ele é como a mostarda de semente, que “cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra.” Tente mantê-lo próximo. O sonho é algo assim: Imagine que, passada a nossa época de tragédias, as pessoas no mundo serão do nosso sangue, do nosso cabelo, do nosso osso e da nossa pele. Ao redor das suas fogueiras, talvez contem lendas antiquíssimas sobre nós, a quarta ou a quinta humanidade, que acreditou ser um deus, ou um demônio. Ocasionalmente, talvez ao caminhar no final da tarde por paisagens totalmente desconhecidas, venham aos seus sábios imagens atávicas dos infernos que vivemos e das grandes catástrofes que se romperam por cima das nossas cabeças. Tomados por esse golpe de mágica, ouvirão gritos de crueldade e ódio, mas também histórias de grande coragem e amor, das enormes proezas conquistadas pelas multidões. Serão acometidos por um grande terror ao ver essas coisas. Mas será apenas uma memória. Erguendo-se, continuarão seu caminho de volta às suas aldeias e acampamentos, onde há sempre uma lareira queimando e a gente é feliz, porque sabe que, afinal de contas, foi tudo um pesadelo e que, como todo pesadelo, ele também chegou ao seu fim. Espero que nos vejamos em breve. Seu amigo, Felipe Moretti pesquisa os movimentos de Caldeirão e Pau de Colher, que se deram na década de 30 no Sertão nordestino. Interessa-se sobre como seus discursos podem oferecer-nos outras visões sobre a relação entre o humano, o divino e as temporalidades associadas ao fim do mundo. Acredita que, olhando assim para este passado recente e que foi violentamente destruído pelo Estado Novo varguista, possamos encontrar respostas para as questões dos nossos tempos, também assombrados pela mudança climática global e o colapso de regimes geopolíticos estabelecidos. Pensamientos nostálgicos de un Warmipangui Kichwa Canelos de la amazonía en tiempos del covid-19
Estaba consciente de que la madre tierra estaba enferma, había dado señales de ello. Mediante lluvias intensas y sequías en algunas partes del mundo, estaba llamando la atención para que el hombre tome conciencia de su accionar al explorar los recursos naturales que ella nos ofrece. A inicios del dos mil veinte, me consideraba la persona más feliz y dichosa del planeta, porque iniciaba el tercer año de estudios para culminar mi doctorado en Antropología Social en el Museu Nacional/UFRJ, y también porque estaba con mi compañero de vida que había viajado conmigo para hacerme compañía mientras tramitaba mi residencia en Rio de Janeiro. En marzo, iniciaría clases. Habíamos hecho planes para estar juntos y disfrutar nuestro tiempo, ya que mis estudios e investigación de campo habían cambiado nuestra forma de vida; así que pensábamos aprovechar al máximo el corto tiempo que nos quedaba antes de que él retornara a Ecuador. En diciembre del dos mil diecinueve, escuchamos en las noticias que en Wuhan/China había surgido una nueva gripe y que se estaba saliendo de control. Nunca pensamos que alcanzaría tal magnitud, como para parar a todo el planeta. China, para mi, es un país mágico y lejano. Como tal, solo existe en mí imaginación. Con el pasar del tiempo, fuimos escuchando que aquel virus se esparcía incontenible y se elevaba a categoría de pandemia. Los no indígenas de los países “desarrollados”, como se consideran, se jactan de su avance tecnológico en medicina, así que imaginé que para antes que llegase esa amenaza a estas tierras, “en proceso de desarrollo”, la iban a lograr controlar. El tiempo iba pasando, y en un abrir y cerrar de ojos, ya había casos en América del sur. Si la mente y la difusa información no me engañan, fue Ecuador donde se registró el primer caso. El mundo se había puesto en alerta. Estaban cerrando aeropuertos, vías terrestres y marítimas. La nueva gripe, a la que en primer momento le nombraron coronavirus, tenía los mismos síntomas iniciales que la gripe común, solo que más fuerte y letal. Podía causar la muerte en un tiempo récord. Algunos presidentes no le dieron la debida importancia, como sucedió en Estados Unidos. Su actual presidente, Donald Trump, expresó que “solo es una gripecita”, a la que no había que tenerle miedo y no iba a parar todo un país. Una clara declaración de un capitalista, que solo piensa en los resultados económicos con los que se le va a medir, y no en la seguridad de todo el planeta. Escuchamos que Ecuador también estaba tomando las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de Salud (OMS). Y que en Sao Paulo, se había reportado el primer caso. Mi compañero se puso nervioso, y yo también, porque, según los médicos, la nueva gripe era mortal para niños y personas mayores. Y él entraba en el grupo de riesgo. Sentí miedo, pues estábamos lejos de nuestra casa y de la familia. Además, me sentía responsable por él, ya que, si algo le pasaba, sería toda mi culpa. Y no me perdonaría. Porque fue por mí que él viajó. Además, que le diría a su familia. Me propuso adelantar el retorno a Ecuador porque estaban cerrando las fronteras. Cuando me lo preguntó, la tristeza invadió mi ser. Pero no expresé lo que estaba sintiendo por dentro y concordé con su propuesta, ya que no quería que él se sientiese triste o culpable por dejarme solo en Rio de Janeiro. La última noche juntos, no pude controlar mis sentimientos. Y el dolor se convirtió en rabia. No quería que se fuese. Pero no podía hacer nada. Así que dormí alejado de él. La vida me ha enseñado a mostrar una cara alegre y de bienestar, sin expresar dolor, aunque por dentro esté destrozado. Once de marzo. Fui a mi primera clase de Antropología de la Sexualidad, para madurar mi reflexión sobre el tema que estoy estudiando, el cual se desarrolla sobre Género y Sexualidad, enfocado en la homosexualidad indígena. Pensé que retomar las clases en el PPGAS me ayudaría a distraer mi mente de las penas que había vivido. Además, estaba rebozando de felicidad, porque me encanta el tema que íbamos a estudiar. Pero mi felicidad duro poco. Días después de las clases introductorias, el país entró en proceso de cuarentena. El virus minúsculo, pero mortal, había llegado a tierras cariocas. Suspendieron las clases sin establecer una fecha para retomarlas. Y, para asfixiar más mi ser, entraba un decreto de ley prohibiendo que las personas saliesen a la calle. Al día siguiente, desperté ansioso y sofocado. Pensamientos del pasado entraron en mi mente, y me di cuenta de que estaba lejos de los míos. Mi pareja se acababa de ir. Mi familia estaba lejos. No podía verme con mis amigos para distraerme o conversar sobre nuestros objetos de estudios en algún lugar de la ciudad, metidos dentro de una cafetería o en algún bar de las calles animadas de Rio. La depresión estaba tocando la puerta de mi casa. Sí no hubiera sido por mi amiga indígena, Dessana Isabel, hubiera dejado entrar a la depresión. Ella me ayudó con su compañía. Además, mi compañero y familiares estaban en constante comunicación conmigo, lo que me dio fuerzas para continuar. Recibí el correo de la Profesora María y mi orientador João de la disciplina Antropología Histórica y Etnohistórica, en la cual indicaban que las clases no se iban a interrumpir, solamente se iba a cambiar de método. Íbamos a usar herramientas tecnológicas para tener clases virtuales. Me puse feliz. Así, no iba a estar aislado leyendo y escribiendo solo en mi cuarto. Ahora se me presentaba la oportunidad de dialogar con mis otros colegas de estudio y, por lo menos por la pantalla del computador, verlos. Pasaron los días. Hasta cuando se recibió un correo de la Pro-rectoría PR2 de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. En la nota, se decía explícitamente que se prohibía tener clases on line. ¿Porque hacían eso?, pensé. Pero enseguida me dí cuenta que no todos los estudiantes tienen una computadora en sus casas o acceso a internet. Es la otra cara de Brasil. María y João nos preguntaron si queríamos cancelar las clases on line o cambiábamos a un grupo de estudios sin carga horaria. Todos aceptamos. Y continuamos nuestros encuentros, todos los viernes, a la misma hora y por el mismo canal, el Zoom. La cuarentena está siendo difícil de sobrellevar para mí. Estoy lejos de mi entorno, de mi familia y de mi compañero. A veces, despierto con miedo y rezando a mis ancestros, para que nada malo les pase a ellos ni a mí. Porque si la muerte nos visita, a alguno de nosotros, no tendría la oportunidad de despedirme de ellos y verlos por última vez antes que retorne a las entrañas de la madre tierra. Pero las reuniones con mi grupo de estudio, mi amiga Isabel, mi compañero y mi familia me ayudan a distraerme y llevar una vida más o menos “normal”. Pero a veces la nostalgia entra en mi mente, y pienso en mi madre, mis hermanos y compañero. Recuerdo cuantos momentos felices viví junto a ellos y en mi interior exclamo “¡Daría todo por cinco minutos con los míos!” Solo espero que este virus ayude a reflexionar y repensar sobre la sobrexplotación del planeta… Sobre el autor: Mi investigación está en la línea de Antropología de las minorías, concerniente a Género y Sexualidad, enfocado específicamente en discutir y analizar la homosexualidad indígena Kichwa Canelos de la amazonía ecuatoriana. E-mail de contacto: [email protected] escrevo para descarregar a tensão cotidiana. para tirar do meu corpo todo o peso dessa sobrecarga de medos e incertezas, que desgasta minhas emoções e mina minha saúde mental. mesmo que escrever seja esse ato de sobrevivência que me permite sentir leveza pelo menos na hora da escrita, do descarrego, ele não vem mais acontecendo durante esta pandemia. às vezes, busco sair de mim nas diversas atividades que posso vir a fazer dentro de casa. é verdade que também tento fugir de mim. estaria sendo hipócrita se não falasse sobre isso. afinal, num momento como este, o que a gente menos quer é estar aqui.
apesar dessas sensações diárias, que se repetem de maneiras tão exatas, busco olhar para esse momento e tentar acreditar que, quando tudo isso acabar, as coisas podem vir a melhorar. e não: antes de qualquer coisa, quero dizer que isso não se trata de tirar coisas boas desse momento. na verdade, a conjuntura só escancara nas nossas caras, por todos os meios possíveis, os nossos limites e os nossos fracassos como uma tal “humanidade” que foi elaborada e pensada por poucos, que não trata de todas e todos, mas apenas de uma certa parcela interessada nessa ideia que foi universalizada. é exatamente por isso que tendo a me assegurar de que, depois daqui, algumas coisas já não vão ser mais como eram antes. nada mais será como era antes, mesmo com a existência daqueles que tentam negar essa realidade e que apelam para uma ideia de “normalidade”, que também já não existe mais. o que é normal? o que era normal? e para quem?... os limites e fracassos desses projetos de sociedades e o que nós podemos fazer com isso são o que me permitem ficar de pé e me devolvem um pouco de sanidade e fé nas mudanças. isso porque, apesar dessas reflexões e sensações e modos de lidar dizerem respeito ao lugar social que estou ocupando no momento, às possibilidades de me manter em casa e de ter um certo recurso financeiro – que, por mais abaixo do que deveria ser, ainda me permite ter uma qualidade de alimentação melhor do que a que eu tinha antes, e do que muitos e muitas têm hoje –, e para além das demais problemáticas existentes que podem desembocar deste discurso, eu consigo sentir as transformações e a emergência de reflexões e propostas de alternativas a esse caos político-sócio-cultural-econômico-biológico e ambiental que estamos vivendo. são as apostas na solidariedade entre as diversas comunidades e coletivos que buscam se apoiar nesta crise e suas alianças, o envolvimento de milhões de pessoas que, por vários anos, décadas e gerações se distanciaram da esfera política por desprezo e não credibilidade e que agora estão se mobilizando para ajudar os seus semelhantes e seus diferentes, que me fazem ainda ter uma certa esperança. cabe destacar que não falo de “ajuda ao próximo” no sentido cristão – a quem servir esta ideia, que se apegue a ela para fazer algo. mas quando trato de ajuda ao outro, digo no sentido de se sentir responsável pela continuidade de vidas que não só as suas. e são esses esforços e o surgimento e a emergência de tantos outros que me fazem passar por esse momento, quando não estou vivenciando as sensações ruins que descrevi no começo deste texto, de forma mais consciente, estável e sã. espero que isso ajude a vocês a encontrar um feixe de esperança e de força em meio a tudo isso que estamos vivendo. sei que muitas são as possibilidades de interpretação para além do que eu descrevi aqui, e que as mesmas tendem a nos levar para um lado mais pessimista e angustiante. entretanto, uma coisa que essa quarentena nos ensinou é que é preciso nos apegarmos a algo para conseguir atravessá-la da forma menos adoecedora possível. e é isso que estou fazendo. tentando me manter confiante, por mais que eu ainda sangre todos os dias. Zwanga Nyack é mestrando em Antropologia Social do PPGAS/MN/UFRJ. Atualmente estuda a produção de conhecimento antropológico sobre relações em alguns programas de pós-graduação do Sudeste do país. E-mail: [email protected]. Local de residência: Fortaleza/CE - Brasil. De repente,
As portas que se abriam diariamente Se tornaram janelas que ventilam a casa. A casa: Um microcosmo do Mundo. Reflete os anseios de seus habitantes, Os desejos aflitos, Esperando por tempos cambiantes. Essa é a nossa sentença: Sermos integrados novamente à natureza. Essa natureza que foi idealizada, possuída Renegada... E não há contos nem poesias o suficiente Para restabelecer o equilíbrio da mente. Em formas diárias e paradoxais de quarentena, Ando reclusa, pensativa, para além dos muros que nos separam. Devidamente. A humanidade vai se reinventando sem perceber, Um novo normal que vem nos amanhecer, Penetra lentamente sobre o universo dos sentidos, Os olhos atentos, a boca ansiosa e o corpo cansado de viver novos dias contidos, Contados. Eu busco a saída nas palavras Que leio, que escuto, que falo e que (re)penso, Novos significados. Uma força vital, Imponente, Atemporal, Comunicando aos ventos silenciosos do microcosmo, do papel, ou do universo virtual. Junta-se à quietude alheia, Naquilo que não foi dito, Revela o mal do século: Nosso antropocentrismo. Rebeca Capozzi. Mestranda em História das Ciências e da Saúde do Programa de PósGraduação da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Atualmente estudo a descrição dos animais da França Equinocial produzida pelos capuchinhos franceses Claude d’Abbeville e Yves d’Évreux. E-mail: [email protected] “Sobre o terreno mole o pé de um bicho não escorrega” - [José Roberto S. Saiol, PPGHCS/COC/Fiocruz]15/5/2020
Acabei de ver na Mídia Ninja: “troco uma máscara por um alimento”. Meu coração parou. Hoje é dia das mães. Ontem, meu avô teria completado 90 anos. Essa noite eu sonhei com ele e com a minha avó. Quando me dei conta de que estava sonhando, lembrei que aquele cotidiano – um domingo de churrasco e casa cheia, de fazer o prato da minha avó e tentar convencê-la a comer mais algumas colheradas em troca de um doce – já não podia mais existir. Que saudade deles! Se foram e ficou um buraco no meu coração. Estava lendo textos do século XIX para a pesquisa: Comte, Saint-Simon, Torres Homem... Esses textos foram fundamentais na promoção do valor social das ciências e na constituição do seu estatuto de legitimidade; elas eram, de uma só vez, o meio mais eficaz para o melhoramento da sociedade e para a construção de um futuro de progresso e felicidade. É tão estranho [é esse mesmo o adjetivo?] ver esse edifício que eles ajudaram a erguer ruir dessa maneira tão dramática – junto, é claro, de todos os marcos civilizatórios que conquistamos desde aquela época – sem saber muito bem como se luta contra isso num mundo dominado pelos perversos. Como disse a Eliane Brum, os nossos dias precisam voltar a nos pertencer. O Fourier é um cara muito doido, né?! A insustentável leveza do ser é um romance; mas bem que podia ser um livro de filosofia. Entre as muitas lições que existem nele, está um convite à apreciação dos acasos. Kundera ensina: “Não há, portanto, razão nenhuma para censurar aos romances o seu fascínio pelos misteriosos cruzamentos dos acasos, mas há boas razões para censurar o homem por ser cego a esses acasos na sua vida cotidiana e assim privar a vida da sua dimensão de beleza”. O acaso que tornou possível a convergência das nossas escolhas; o acaso que, de modo indulgente, te mostrou que existe mais em mim do que minha antipatia e minha personalidade difícil; o acaso que nos levou a redigir de mãos dadas aquele que foi o nosso parto mais longo e dolorido até o momento; o acaso que deu ensejo ao nosso reencontro; o acaso de dividir carinhos e um [quase] cochilo numa árvore do MAM iluminada pelo poste da Lota (aquele, do Aterro, que simula o luar) enquanto a gente esperava a vez do dj chato da festa passar. Afeto. Minha saudade de todos os dias. Está no livro: “mesmo nos momentos da mais profunda desordem, é segundo as leis da beleza que, secretamente, o homem vai compondo a sua vida.” Não aguento mais o Bolsonaro. Estava prestes a completar dois meses sem dar um único abraço quando a Anny apareceu. Hoje é dia de live da Duda Beat e de texto novo da Laura. Também sonhei com ela; voltávamos ao nosso restaurante secreto no Largo do Machado. Que sorte foi ter vindo pra casa a tempo! Se tivesse ficado sozinho no Rio, já teria enlouquecido. A minha passagem favorita do conto d’Os Sobreviventes diz o seguinte: “[...] não tem jeito, companheiro, nos perdemos no meio da estrada e nunca tivemos mapa algum, ninguém dá mais carona e a noite já vem chegando.” Por causa dele, eu descobri a Angela Ro Ro. Cada um dos que se foram era o amor de alguém. Ontem eu estava ouvindo de novo o registro da gravação de “The end of a love affair” pela Billie Holiday. A música é uma coisa tão especial! Preciso qualificar e o prazo pro texto da SBHC já está estourando. Vô, vó, que saudade. Quando vocês desapareceram no sonho, caí nos pés da cama – bem ali onde eu me aconchegava entre vocês quando era criança – e chorei de soluçar. Quando terminei de chorar, acordei. Outra lição do Kundera: “O amor não se manifesta através do desejo de fazer amor, mas através do desejo de partilhar o sono.” Tem feito dias tão bonitos por aqui. As nuvens no céu se parecem com pinturas de tinta óleo. Acordei tarde de novo; está muito frio! Estou atrasado para descer e espremer as laranjas do suco do almoço; fica todo mundo esperando. O que eu gosto na poesia da Matilde Campilho é que cada texto é o percurso de descoberta de uma teoria filosófica complexa sobre qualquer coisa. Pessoalmente, prefiro as que falam sobre o amor: “O mestre ainda não veio decretar o começo da abstenção e, olha, a luz ainda está conosco.” Enquanto não houver vacina, não poderei voltar ao meu karaokê favorito em São Cristóvão. Meu sol está escrevendo um texto novo. Conversamos longamente no telefone sobre ele e rimos como sempre acontece quando estamos juntos. Quando será que nos encontraremos de novo? Estamos com saudades. É tudo tão cruel. Eu não posso usar prestobarba, tenho foliculite. Se eu soubesse que as viagens seriam suspensas, teria trazido o aparelho de barbear do Rio. O que eu nunca vou perdoar nesse vírus é que ele me tirou dos braços onde eu me acostumei a estar; os mesmos pra onde sempre quero voltar. De novo a Matilde Campilho? “Porque, toda a gente sabe, sobre o terreno mole o pé de um bicho não escorrega. Isso é o fim do medo. Hoje é dia de São Mateus, e Santo Agostinho repete insistentemente o velho mantra: ‘Prefiro a misericórdia/ Prefiro a misericórdia/ Prefiro a misericórdia.” Estou cansado... Três Rios, 12 de maio de 2020 Sobre o autor: sou aluno de doutorado em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, e estudo as relações entre ciência e utopia durante o século XIX. Nesse texto, lancei mão direta ou indiretamente de algumas das minhas referências literárias favoritas: Milan Kundera, Caio Fernando Abreu, Matilde Campilho, Laura Nery. Cada um deles tem me feito companhia nesse período de isolamento social e me ajudam a dar sentido e a elaborar esse momento tão difícil para a nossa geração; não sei o que seria de mim sem eles. Agradeço à Renata Nassur, que gentilmente autorizou a publicação do registro fotográfico que fiz de uma de suas obras, e que ajuda a compor este texto. E-mail: [email protected].
Quixote, Dali e outros moinhos culturais - [Pedro Souza Moreira da Silva, PPGHCS/COC/Fiocruz]15/5/2020
Em uma já longínqua época, onde ainda vivíamos em um país e, por isso, ainda tínhamos um presidente, o mandatário do cargo proferiu um discurso que me ecoa, e muito, nesses tempos de quarentena. Ao proferi-lo em sua posse, disse que era o momento “do reencontro do Brasil consigo mesmo”. Era homem, mas visto como um cefalópode, julgado por hipoteticamente ter um sistema nervoso pouco complexo e, em consequência, erroneamente considerado pouco afeito a arroubos cognitivos. Porém, esse ser nectônico, que navegou por mares intocados desde os tempos de Isabel, conseguiu com seus incansáveis tentáculos abraçar uma porção de gente que sentia aquele estranho frio que queima por dentro e que faz a sensação de vazio ser só um ponto nessa imensidão deserta de nutrientes.
Longe de querer julgar as façanhas ou bolsas de tinta que mancham ostras e outras iguarias marítimas marinadas por quase uma década, me prendo ao discurso da posse, sem deixar, evidentemente, de desabafar sobre a saudade dessa miscelânea aquático-social. Essa quarentena está sendo um momento de reencontro do eu comigo mesmo. Isso porque o estranho frio que queima por dentro não me ataca as entranhas. Mesmo à distância, mantenho-me exitoso em oferecer minha força de trabalho em troca de contas pagas. É um reencontro, pois todo o reencontro envolve pelo menos dois que já se conheciam e que, nesse inevitável ringue de Heráclito, se encontram sempre pela primeira vez. Nesse reencontro entre o eu externo (corpomente) e o interno (desejosensação) pude reencontrar, pela enésima vez, a História. Com ela saio de cavernas, subo em acrópoles, viajo por realidades estrangeiras conhecidas e desconhecidas mais uma vez e pela primeira vez, concomitantemente. Acho demasiadamente duvidoso dizer que me afasto ou aproximo da História alternadamente. Na realidade nua e crua, nunca nos afastamos. Porém, diante das mazelas oriundas das obrigatoriedades financeiras que esse mundão nos traz, as vezes não consigo ouvir as palavras que ela me sussurra através de territórios tão paraguaios, tão platinos e sempre tão pantanosos. Isolado, consigo enfim ouvir o recitar de seus versos ao pé do meu ouvido, que me arrepiam de medo e desejo ao longo das páginas impressas em um dispositivo online. Nesse tempo de quarentena, a distância e a proximidade têm se mostrado ambíguas ao evidenciar o amor, esse negócio que transcende qualquer parâmetro da fisio-psiquê humana. Mesmo sabendo da impossibilidade de tal ato, deixarei o debate sobre o que é o amor de lado por um tempo, já que ele tomaria de assalto todos os parágrafos aqui tentados sem ao menos percebermos. A proximidade intensa e obrigatória com a minha esposa tem me feito cair em uma descrição tão densa, que nem mesmo o antropólogo mais atento poderia imaginar. Viajando nos pormenores da nossa relação, pude perceber que a amo tanto, independentemente de qualquer que seja a angular de observação proposta. Nos detalhes e nas generalidades, meu amor pela Gabi é cada vez mais posto de forma escancarada nas janelas do nosso apartamento que, por conta disso, mais liberta do que aprisiona. A distância tem ativado minhas celulases que ficaram tanto tempo ocultas nessa genética histórico-biológica-musical por vezes cambiante. Ai que saudades do arquivo! Digo de minhas celulases pois, mesmo sem tê-las de forma explícita, códons emanam da sequência de bases que estão filogeneticamente evidenciadas no gosto pelo cheiro de papiros indecifráveis, todos singela e confusamente armazenados em palácios republicanos (os imperiais ainda hei de visitar!). Por ter esse jeitão de traça e cara de cupim, que falta me faz o contato com os documentos que, mesmo sem jorrar nenhuma gota d'água, são fontes inesgotáveis de inspiração e dados (basta fazer as perguntas corretamente, não é mesmo?). Ao longo dos últimos dois anos percebi essa minha, outrora oculta, verve papirofágica. Porém, esse momento de impossibilidade do contato com tais artefatos que nos permitem brincar como uma criança einsteiniana, deformando, se informando e interpretando o espaço-tempo, tornou-a muita mais evidente. Mais uma vez, grito para eu mesmo ouvir: que saudade do arquivo!!! Entre banhos de álcool 70%, ministrar aulas para displays (que para alguns são mais complexos do que derivadas e integrais no Fund I) e postagens em plataformas nas quais até mesmo o Gancho não se atreveria em acossar a Sininho, tenho conseguido ler bastante. Dessas leituras, deixo aqui algumas impressões, mesmo que estas tenham mais jeito de um violão cubista (e braqueano) do que um do ré mi emanado de uma flauta doce. Um dia fui a uma exposição no centro da cidade. Faz bastante tempo. Se tratava de algumas produções de Salvador Dali. Dentro daquele apanhado de pinturas e desenhos que me impressionaram bastante, estavam algumas ilustrações produzidas para abrilhantar obras literárias já bem conhecidas (ou pelo menos foi isso que atordoadamente compreendi). Lembro bem da lisergia das obras para Alice no País das Maravilhas. Aqueles coloridos incríveis convenceriam até o mais convicto dos coelhos que laranja é uma cor simples para o brilho dos sabores carotenóidicos e lipídicos em geral. Mas confesso que, mesmo sendo a produção de Dali para o País algo incrível, os trabalhos ligados ao livro de Miguel de Cervantes me marcaram de forma muito mais singular. Das ilustrações para as aventuras de Quixote e Sancho, uma possuía um grande X carregado na tinta, borrado/pintado na parte superior de um papel. Aquilo era e é, até hoje para mim, o mais lúcido e convincente moinho que já vi. Lendo algumas histórias italianas e também outras sobre balineses e marroquinos, pude entender finalmente porque Quixote batalhava contra moinhos, que aquilo estava longe de ser algum tipo de sandice e mais: pude compreender por que, ao ver aquele borrão pintado na parte superior do papel, instantaneamente o moinho girou dentro da minha cabeça. Talvez mais do que isso, pude compreender e sentir que as teses e dissertações são produzidas por outputs oriundos da nossa mente-coração-psiquê-corpo. É mais do que evidente que inputs provenientes das bibliotecas e professores são totalmente indispensáveis. Sem isso nosso sistema nervoso claudica e nem mesmo pode ser chamado desta maneira. Porém, grande parte do potencial que produzirá um trabalho acadêmico, uma poesia, uma pintura ou melodia (respeitando e considerando o papel indissociável dos sistemas simbólicos de cada povo em todos os citados processos) está dentro da gente e pode e precisa ser cultivado e fortalecido neste momento de isolamento. Talvez seja uma oportunidade, mesmo que indesejada, imposta e extremamente assustadora, de nos lapidarmos internamente. Sempre vale lembrar que Bloch escreveu um dos textos mais belos e impressionantes do século XX do chão de uma cela. Ele não tinha acesso a bibliotecas, simpósios, conversas e muito menos a todos esses dáblio dáblio dáblios e agá tê tê pês que tanto atazanam e facilitam a vida da gente. Diante desta pandemia, torço com enorme afinco para a melhora dos enfermos, para a saciedade daqueles que não a tem e tento ficar são diante dessa imensidão de possibilidades nervosas, quixotescas e culturais que tanto me cativam. Algumas referências: BLOCH, Marc. Apologia da História, ou O Ofício do Historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro. LTC, 2008 GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. O cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela inquisição. São Paulo. Companhia das Letras, 2008 PRESIDENTE DA SEMANA (podcast) - Folha de São Paulo episódio 26. Locutor: Rodrigo Vizeu. Entrevistados: André Singer e Demétrio Magnoli.2018 Pedro Souza Moreira da Silva é professor de Biologia e Ciências. Atualmente também é doutorando do PPGHCS (COC/Fiocruz). Seu objeto de pesquisa é a relação entre tropas, plantas e ambiente na Guerra do Paraguai. Email: [email protected]. A ilusão de estar sozinha, desacompanhada e/ou isolada nos meus sofrimentos e nos meus angustiantes e inescapáveis defeitos é uma daquelas coisas imemoriais que me acompanham desde que me entendo por gente. É difícil contar as vezes em que o fato de que outras pessoas passam por dilemas parecidos – ou melhor, de que passam por dilemas extremamente diferentes de mim, mas que compartilham sentimentos ou reações do mesmo tipo que os meus – se vestiu de revelação bombástica na minha vida. Tal re-realização, conhecimento esquecido (pois a vida parece tantas vezes um relembrar-se) era então acompanhada de um curto suspiro envergonhado de minha parte, frente minha caída na armadilha da crença na excepcionalidade. Talvez seja síndrome de filha única, pensei, ou meus pézinhos nas águas da depressão e ansiedade. A verdade é que poder compartilhar com outras pessoas as similaridades e diferenças na forma de viver, sentir e agir é o presente mais cativante que (re)descubro durante minha existência. Esse comunicar-se nunca deixa de me fascinar.
Ao receber o convite para a escrita de um texto sobre a pandemia, minha primeira reação instintiva, admito, é a preguiça. Mais que tudo, formular minha experiência em palavras que serão lidas por outras e outros carrega ainda um elemento levemente aterrorizante, independentemente do quanto escrevo ou quão mais velha fico. De novo, porém, o que ou quem me salva são as Outras e Outros, seres humanos que tenho o privilégio de conviver, mesmo que de formas aparentemente superficiais, como um texto. Nos relatos de alunos da Fiocruz e do PPGAS sobre pesquisa e vida na pandemia, por exemplo, vejo reflexos de minha experiência pessoal do momento, assim como evidências de situações muito diferentes da minha, sublinhadas sempre por um instinto louvável e ousado de partilha e de auto-expressão. Isso me inspira: a mistura do diferente e do parecido, e a prevalência de um impulso corajoso de narrar a própria história, de presentear sua vulnerabilidade para o coletivo – através do relato das resistências inventadas frente aos demônios interiores e exteriores que nos assolam (do vírus e do governo em ruínas, da falta de previsibilidade e rotina, ao isolamento e preocupação com entes queridos, e, algumas vezes, até a garantia da sobrevivência de si, de sua casa e seu povo). A sensação de compartilhamento me desafia e sempre me surpreende deliciosamente. Tenho aproveitado também dos encontros virtuais com alunos do LAH, laboratório de antropologia do qual faço parte no Museu Nacional. Nele, minhas e meus colegas às vezes contam um pouco sobre suas pesquisas, vidas pessoais, dilemas internos. Que privilégio é fazer parte desse microcosmo, reflito! Essa coragem me incentiva, por minha vez, a me expor um pouco também. Acredito que um dos maiores desafios desta quarentena para mim – do alto de meus privilégios como mulher branca, cis, hétero, de classe média, sem filhos para cuidar – tem talvez sido escapar de mim mesma, de minha cabeça, e de meus próprios pensamentos e limites. Há tempos sou ciente do efeito produzido em mim por longos tempos de enclausuramento dentro de casa, mas confesso que mesmo assim mantia, antes da pandemia, um sonho meio romantizado de uma cabana na floresta em que poderia ficar sozinha, escrevendo, lendo e refletindo, cumprindo todos meus afazeres atrasados meses afora. Bem bobinha, eu sei. Não mais. A inadequação do modelo individualista-capitalista do mundo moderno ocidental, que se alimenta desse pernicioso mito da autossuficiência, nunca me foi tão evidente, passando de uma concordância intelectual para uma convicção profundamente real. Percebo na carne e nos ossos que, para pensar e produzir, além de tempo, preciso de gente. Anseio pelo convívio e pela troca, assim como sinto falta de caminhar pelas ruas, de olhar a paisagem pela janela do ônibus ou do carro, e deixar meus pensamentos serem modelados pelas linhas montanhosas de Minas, pela praia no Rio, por um boteco lotado. Encaro cada vez mais com suspeita os insights demasiado solitários, mas ao mesmo tempo também não sei sempre lidar com o excesso de rotas de escape que pipocam de todo lado – como lives de autores famosos, livros gratuitos, e aulas online de ioga. Por melhores as intenções de criadoras, criadores e participantes desses muitos cursos e possibilidades, um senso de falsidade ou banalidade acompanha tais caminhos, relembrando um mercado estranho, uma pressão produtiva mascarada de auto-cuidado. A surrealidade da situação retorna, e pareço voltar ao lugar de início. Vivemos tempos estranhos. Por outro lado, porém, os privilégios desse tempo e de minha condição específica também ficam claros durante esse fase esquisita. Por exemplo: vivo junto a minha mãe, que pode continuar a trabalhar de casa, que está bem de saúde, e, principalmente, que me faz rir um pouco todos os dias. Estar no mesmo lugar por tempo prolongado, além disso, resgata um pouco aquele olhar de criança, que vê espaços apertados como grandiosos e se diverte ao cuidar das plantas e raspar a tinta da parede descascada. O pequeno ganha premência em geral, e há de se aproveitar o conforto de um bom café à tarde, das conversas por telefone e do não fazer nada. Mais que tudo, através de amigos e colegas e do privilégio tecnológico que comprime a distância geográfica, consigo, como disse, sair um pouco do meu estupor, e achar graça de profundas inseguranças – as minhas, as do mundo e as do momento. Enfrento a ansiedade e acordo para mais um dia: agradeço à multidão de presenças corajosas que insiste em se manifestar. Laura Lobato-Baars é mestranda em Antropologia Social pela UFRJ, Museu Nacional, PPGAS. Seu tema de pesquisa é a formação da população sino-afro laiap do Suriname, sob orientação de Olívia Gomes da Cunha. Email: [email protected]; enviado em 14/05/2020. Era 13 de março de 2020. Estávamos na aldeia Nova Esperança, do povo Matsés, rio Curuçá, quando um informe iniciou as discussões daquele dia, na 6ª Assembleia Geral da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (UNIVAJA): a aproximação do coronavírus na região, registro de casos em Iquitos, Peru, e Cruzeiro do Sul, Acre. Na noite anterior, participantes da assembleia souberam da notícia pelo orelhão da aldeia e aproveitaram o início das atividades para dar o informe, chamando a atenção dos povos ali reunidos para o que estaria por vir – mesmo que ninguém tivesse a exata noção do que, de fato, estaria por vir. Afinal quem já tem essa noção hoje? Creio que ninguém, sobretudo no Brasil, onde enfrentamos duplo vírus, dupla crise: sanitária e política. Nessa movimentação toda, lá estavam os Korubo, a quem tenho acompanhado desde janeiro de 2019, povo indígena de língua pano, do ramo setentrional, considerados pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) como ‘recente contato’, habitantes da Terra Indígena (TI) Vale do Javari, localizada no extremo oeste do Estado do Amazonas. Era a primeira vez que os Korubo participavam de uma assembleia do movimento indígena, apesar de serem constantemente mencionados em diversas discussões – seja por sua fragilidade enquanto recém-contatados, seja por sua bravura, ou ainda, pelos conflitos do passado envolvendo os não-indígenas. Os ‘caceteiros’ do Vale do Javari dessa vez estavam ali, e isso era motivo de comemoração generalizada. Conforme fizera ao longo de toda a assembleia, tentei explicar-lhes o informe da melhor maneira possível naquele momento: estava chegando uma gripe nova (toxoe paxa), disse eu, só que essa é diferente da que vocês começaram a conhecer e têm tanto pavor – pois sabem que quando um gripa, todo mundo gripa –, a gripe nova causa também falta de ar (xakanke). Instantaneamente, eles ficaram com aquele olhar, aquele mesmo olhar que usam quando sentem-se em perigo, ameaçados diante das enfermidades que historicamente levamos a eles, para as quais os remédios do mato (iwi polo) não fazem efeito, nem as práticas xamânicas, aspirações e sucções de doenças; nem mesmo o tatxik – poderoso cipó amargo que, sob a forma de bebida, potencializa os homens à caçada e as práticas curativas – poderia enfrentar uma doença trazida e até então desconhecida pelos não-indígenas (nawa). Frisei ainda que, por não conhecermos o novo coronavírus (nawavo unanemen), não tínhamos remédios, nem vacina (txiete vama, toskai vama) e que, portanto, o ideal para protegê-los era permanecerem nas suas aldeias. O informe sobre o novo coronavírus precedeu a discussão a respeito dos jovens indígenas que, para estudar, residem na cidade de Atalaia do Norte, Amazonas. Posteriormente, ainda no mesmo dia, o coordenador do Distrito Especial Sanitário Indígena (DSEI) Vale do Javari, Jorge Marubo, fez outro informe: já havia 77 casos de Covid-19 no Brasil, e o planejamento inicial do DSEI Vale do Javari seria imunizar as populações das aldeias contra doenças respiratórias, com as vacinas Pneumo 10, Pneumo 23 e H1N1. Iniciariam as buscas por um local de isolamento para possíveis casos em Atalaia do Norte – naquela ocasião ainda não havia casos ali –, e alertou ainda sobre os limites da Terra Indígena Vale do Javari, regiões onde não há controle. A TI Vale do Javari, com seus 8,5 milhões de hectares, além dos sete povos contatados que compartilham esse território, abriga também uma das maiores concentrações de povos isolados do mundo.
No dia 14 de março de 2020, encerramos a assembleia, e os seis povos que participaram – Kanamari, Korubo, Kulina-Pano, Marubo, Matis e Matsés – seguiram para suas aldeias. Malevo Korubo e Takvan Vakwë Korubo perguntaram-me ainda se eu voltaria para a comunidade com eles. Infelizmente não, mas ainda não era por causa do novo coronavírus. Os Korubo recém-contatados – existem ainda subgrupos Korubo isolados na TI Vale do Javari – são hoje 91 pessoas distribuídas em quatro aldeias no rio Ituí, e eu estava trabalhando na segunda delas: Sentele Maë, também conhecida como Roça Velha (Maë Xëni). Mas ao longo de fevereiro de 2020, na Sentele Maë, acometeram-me dores, sensações de desmaio, calafrios, febre e mal-estar frequentes. Aconselhada pelos profissionais da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) que dão assistência aos Korubo do rio Ituí, decidi, no início do mês de março, sair da aldeia para realização de exames em Tabatinga, Amazonas. Fui então diagnosticada com anemia ferropriva – este já era por si só um indício de que eu precisaria de uma pausa mínima nas atividades de campo para tratamento, meu corpo alertara –, mas havíamos sido convidados para a assembleia, comprometera-me a acompanhá-los, e queria muito participar de tal ocasião. Então fui, mesmo debilitada. Naquele momento não refletia ainda sobre a invasão do novo coronavírus no Brasil, no Estado do Amazonas, e sobre a paralisação da vida de todos, reconfiguração total, deixando rastros que nem sabemos se desaparecerão. Somou-se ao diagnóstico de anemia ferropriva a Portaria nº419 da FUNAI, que estabeleceu: Art. 3º. O contato entre agentes da FUNAI, bem com a entrada de civis em terras indígenas devem ser restritas ao essencial de modo a prevenir a expansão da epidemia. [...] §2º. As autorizações já concedidas devem ser reavaliadas pelas CR’s à luz da prevenção da epidemia da COVID-19, podendo ser reagendadas, especialmente quando envolverem a realização de eventos ou impliquem a entrada de mais de 05 pessoas na terra indígena. [...] Após a assembleia, retornei para minha casa em Tabatinga, e a tríplice fronteira – Brasil, Colômbia e Peru – já não era mais a mesma: escassearam álcool em gel, máscaras e pessoas na Avenida da Amizade. Um clima de tensão tomara o lugar e prenunciava que dias difíceis viriam, a fronteira se tornaria um caos, uma cápsula hermética. Hoje, maio de 2020, encontro-me em São Luís do Maranhão, local onde nasci e me criei, fazendo tudo o que está sob o meu alcance e controle nesse isolamento para recuperar minha saúde física e, na medida do possível, cuidando da saúde mental. Meu corpo está aqui, mas frequentemente flagro minha mente na fronteira. Penso diariamente nesses meus amigos Korubo que ficaram lá no mato, nas mulheres que me criavam como filha, ensinando-me tantas lições de vida sobre força, coragem e poder, e nas crianças que me presenteavam com frutas, ensinando-me sobre afeto, cuidado e amizade. Penso no quão vulneráveis os Korubo estão diante da pandemia do novo coronavírus. Por um lado, enquanto recém-contatados, possuem um sistema imunológico que em muito assemelha-se ao dos povos isolados, extremamente vulnerável às doenças de nawa. Por outro lado, mantêm atualmente relações constantes com os não-indígenas da FUNAI e SESAI – profissionais que cuidadosamente devem cumprir quarentenas, observar detalhes, sob pena de tornarem-se vetores de transmissão do vírus, pois o mínimo deslize pode levar ao extermínio dos Korubo. Penso nos sofrimentos que já tiveram, nas lutas que já travaram no passado, quantos morreram no mato! Perderam praticamente todos os seus anciãos, fugindo de bala, morrendo de gripe e de malária. E agora, quando finalmente sua população voltara a crescer, “nova” ameaça. Para os povos indígenas, essa ameaça tem resquícios de antiguidade. Penso também se e quando voltarei a vê-los. Juliana Oliveira Silva é doutoranda do PPGAS-Museu Nacional/UFRJ. Pesquisa gênero e parentesco entre os Korubo recém-contatados da Terra Indígena Vale do Javari, com ênfase nas práticas de construção e aperfeiçoamento dos corpos, e na criação de crianças. Localidade atual: São Luís, Maranhão. E-mail: [email protected] Texto escrito numa tarde de outono, em 13/05/2020 Respeitar os meus limites tem sido um mantra para mim. O despertador do celular toca, avisando que é hora de levantar para viver mais um dia em isolamento social por causa da pandemia de Covid-19. Todos os dias, realizo os rituais matinais de lavar o rosto e ir para a cozinha preparar meu café da manhã. Costumo tomar café assistindo ao noticiário ou ouvindo podcasts sobre assuntos variados. As notícias sobre o aumento de casos confirmados e de mortes por coronavírus no Brasil e em outros países causam susto em mim. Porque não são só números. São vidas, seres humanos que tinham trajetórias, histórias, eram queridos e amados pelos seus parentes e amigos. Quando as medidas de isolamento social entraram em vigor no Rio de Janeiro, eu estava indecisa se permanecia aqui no alojamento da Fiocruz (localizado em Curicica, Zona Oeste) ou se voltava para Caicó, minha cidade de origem, localizada no sertão do Rio Grande do Norte, distante a uns 270km da capital Natal. Decidi ficar em terras cariocas, pois fiquei com receio de contrair a doença durante a viagem. A maioria dos voos que pesquisei tinham conexões e escalas em São Paulo e eu passaria o dia inteiro viajando. Confesso que foi uma decisão difícil, pois viver em isolamento social longe da família é desafiador. Mas fico aliviada a cada mensagem e telefonema que recebo da minha família e do meu noivo e me conforta saber que estão bem. O fato de dividir apartamento com uma pessoa que vem da mesma região e faz parte do mesmo programa de pós-graduação supre a falta que sinto da família. A gente conversa sobre nossos hábitos alimentares, festas, tradições e situações engraçadas que nossas famílias fazem e que são muito nordestinas como o jeito de falar e se expressar. Quando nós reconhecemos as manifestações culturais, isso nos faz valorizar ainda mais o lugar de pertencimento e reforça o quanto as memórias e vivências são elementos significativos na constituição dos afetos. Os hábitos aqui no alojamento mudaram. Somos quinze estudantes, vindos de diversos lugares do Brasil e de outros países, pertencentes aos programas de pós-graduação da Fiocruz. Como a maioria dos estudantes voltaram para casa, a direção do alojamento tomou algumas medidas como: deixar dois estudantes por apartamento e distribuir álcool 70 para auxiliar na limpeza. Os funcionários do alojamento trabalham no sistema de escala e os que têm mais de 60 anos foram afastados temporariamente e/ou receberam férias antecipadas até a situação se normalizar. Como vivemos em ambiente coletivo, as nossas ações e cuidados têm sido redobrados. A ida ao supermercado, por exemplo, se tornou um desafio, pois os calçados que utilizo para sair ficam todos do lado de fora do apartamento. Saio sempre de máscara e fico assustada com o fato das pessoas não utilizarem nos espaços em que há mais fluxo como a rua. O supermercado sempre está cheio e algumas ações de higiene e prevenção foram adotadas como passar álcool nas mãos e no corrimão dos carrinhos antes de entrar no estabelecimento e sinalizadores nas filas com distância de 1,5 metros entre cada cliente. A chegada em casa é outro processo: as compras feitas no supermercado ficam do lado de fora e só entram depois que higienizo todos os itens. Jamais imaginei que faria todo este ritual para ir ao supermercado e entrar em casa. No tocante aos trabalhos relacionados a tese, mantenho um ritmo de escrita e leitura que considero normal ao comparar com a rotina que eu tinha antes da pandemia, pois sempre trabalhei bem em casa. Mas não é simples escrever tese em tempos de pandemia e respeitar os meus limites têm sido um mantra para mim. O fato de ter a consciência de estar nesta situação é bem mais angustiante. Porque antes, quando o cansaço mental predominava, eu podia sair para ver o mar, ir ao cinema, ver uma exposição artística em algum museu ou simplesmente pegar o transporte público lotado do Rio de Janeiro. Como estou mais tempo em casa, desfruto do espaço externo do alojamento. Por ser amplo e arejado, sinto liberdade de caminhar pelo belíssimo jardim e aproveito para tomar um banho de sol. As flores têm brotado com muito vigor e os sons da natureza predominam como o cantar dos pássaros e o cair das folhas no chão. Meditar, escutar música, assistir filmes e fotografar têm sido meu refúgio em dias cansativos. Fotos tiradas no jardim do alojamento da Fiocruz, localizada em Curicica, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Escolher o que fazer ou não em tempos de pandemia se tornou privilégio para alguns. Escrevo isto porque, na condição de pós-graduanda, eu posso ficar em casa e estudar, diferente de algumas pessoas que exercem atividades consideradas essenciais como caixas de supermercado, entregadores de comida e mercadorias, motoristas de transportes públicos, profissionais de saúde. “Se puder, fique em casa” se tornou o lema desta pandemia e ela é fundamental para conter o avanço da doença e evitar a superlotação do sistema de saúde.
Eu tenho pensado muito no mundo que eu desejo depois que esta situação acabar. Tenho visto vídeos lindos de baleias e outros seres marítimos aproveitando o oceano como realmente deve ser e dos canais em Veneza com uma água cristalina. É a natureza nos mostrando que os problemas que o mundo enfrenta hoje tem muito a ver com os atos que praticamos. Portanto, sobre viver em tempos de pandemia, não é somente tentar sobreviver a uma doença que, infelizmente, têm matado pessoas no mundo todo, mas sim tentar viver diariamente da melhor maneira possível, respeitando o nosso corpo, a nossa mente e os nossos limites diante das atividades que desenvolvemos neste período em que estamos em isolamento social. é quase uma topada, uma pegada na quina quadrada da madeira de um troço que, se digo o nome, posso perder um olho. assim, com isso, arrisco pouco: um verso, uma linha... evito os movimentos bruscos por receio do rebote, centrifugo minha voz ao redor das coisas, gingo entre ecos e reflexos de paredes carregadas de mim. mas, por melhor que entre na curva, por menor que seja meu passo, por maior a velocidade de escape, ainda que, magro, possa escorrer pelas fissuras, as coisas, todas elas, justo as coisas, por serem coisas, exercem força; devolvem, em expectativa, nossa história: puxam, sugam, aspiram. e eu volto a me esborrachar. Thiago Braga Sá vive em Maricá, zona metropolitana do Rio de Janeiro, onde atua também como professor de Língua Portuguesa da rede pública municipal. Aluno de mestrado do PPGAS/MN e graduado em Linguística pela FFLCH/USP. É orientado por Bruna Franchetto e pesquisa sobre o território kuikuro – como é produzido e representado através das artes verbais, como se articula com as chefias indígenas do Alto Xingu e a história kuikuro, como nos ajuda a compreender a pragmática dos dêiticos da Língua Karib do Alto Xingu. E-mail para contato: [email protected] Um dos grandes desafios que temos de enfrentar nesse cenário de pandemia é o de manter-nos produtivos e saudáveis mentalmente. E para ser sincera, não existe uma fórmula pronta para alcançar esse equilíbrio. São dias difíceis e precisamos de muita resiliência para enfrentar esse cenário. Assim, é normal cada pessoa reagir de uma forma diferente. Na minha experiência particular, a quarentena tem aguçado um misto de sentimentos que nos últimos meses se tornaram meus companheiros diários: medo, tristeza, insegurança, solidão e saudade. Conviver com tudo isso junto e misturado não tem sido fácil, por isso tenho contado com a ajuda de uma psicóloga, de amigos e familiares.
Quando a ansiedade se faz presente, não tenho vontade de sair da cama, pois as coisas parecem não ter muito sentido. É bastante complexo dar continuidade às atividades do doutorado em meio a tantas notícias ruins, não só apenas relacionadas ao Covid19, mas ao contexto geral do Brasil. Uma das medidas que adotei foi parar de ver notícias jornalísticas sobre a pandemia, na tentativa de fugir um pouco da enxurrada de informações ruins – que estavam servindo de gatilho para minhas crises de ansiedade – e manter minha saúde mental. No entanto, nem sempre consigo praticar esse distanciamento e às vezes acabo vendo algo, mas de forma controlada para apenas me manter informada. Mesmo diante do caos provocado pela pandemia, tento manter dentro do possível uma rotina de estudo. Estou no segundo ano do doutorado em História das Ciências e da Saúde (Casa de Oswaldo Cruz-COC/Fiocruz) e preciso reescrever o projeto de pesquisa e elaborar o material para a qualificação no final do ano. Desse modo, acabo dedicando boa parte do meu dia às atividades do doutorado, o que de certa forma me afasta das preocupações do mundo lá fora. Porém, nem sempre consigo estudar, principalmente, quando fico muito ansiosa. Nesses momentos, procuro fazer algo leve, como conversar com um amigo pelas redes sociais, ver uma série, ler um livro ou simplesmente não fazer nada. A quarentena tem me ensinado a ouvir meus sentimentos, a desacelerar para entender as coisas e a identificar o momento certo de descansar o corpo e a mente. Falando em corpo e mente, uma das coisas que mais tem me ajudado é a realização de atividades físicas. Me sinto muito melhor após correr e fazer exercícios. Essa tem sido minha atividade diária preferida, pois consigo distrair a mente e cuidar da saúde. Mas isso só é possível porque disponho de uma quadra segura que fica longe de qualquer contato com o mundo externo. Assim, posso sair um pouco do meu apartamento e respirar o ar da natureza sem correr o risco de ser contaminada. Moro no Alojamento da Fiocruz e aqui em período normal somos muitos – pessoas de diferentes países e estados – contudo, atualmente estamos em número reduzido, visto que muitos colegas voltaram para casa. Optei por permanecer no Rio de Janeiro pela segurança da minha família. Meus pais moram no interior do Piauí e a viagem para lá é muito complicada, pois tenho que pegar um voo de quatro horas até a capital, Teresina, depois enfrentar seis horas de ônibus e uma hora de van para minha cidade. Fiquei com medo de nesse percurso ter contato com o vírus e ao chegar em casa contaminar meus pais que, de certa forma, estão mais seguros por morarem na zona rural. Para matar um pouco a saudade converso com eles por chamada de vídeo – comemoramos o aniversário da minha sobrinha desse jeito – e tento acalmá-los dizendo que está tudo bem comigo – minha mãe está muito preocupada –, que logo estaremos juntos novamente. Acredito que o fato da minha família estar protegida me deixa mais confortável e menos apreensiva. Aqui onde moro está muito calmo – sempre é muito agitado devido a quantidade de moradores e funcionários que trabalham na instituição –; às vezes só escuto o barulho dos passarinhos que, de umas semanas para cá, parece que passaram a cantar de forma mais intensa. Coisas que antes passavam despercebidas agora fazem parte da minha rotina, como, por exemplo, ficar observando da janela as flores no jardim enquanto tomo meu café matinal. Mas confesso que bate aquela saudade do ritmo acelerado da vida, de ficar reclamando que não tenho tempo para nada. O isolamento social só não está sendo mais severo porque estou compartilhando tudo isso com uma amiga que também faz doutorado no mesmo programa. Temos rotinas muito parecidas, sem falar que somos da mesma região – nordestinas, oxente –, assim falamos uma linguagem parecida, sorrimos das mesmas piadas e relembramos coisas da nossa infância que são muito peculiares. Ajudamos uma a outra, tanto nas nossas pesquisas do doutorado, como quando bate a tristeza e a saudade de casa. Meus amigos também estão sendo fundamentais nesse momento. Eles são aquele pontinho de esperança que tanto preciso para continuar acreditando que tudo isso vai passar. No entanto, estou tendo que aprender a lidar com essa distância física, sem abraços, sem beijos e sem cheiros. Sinto muita falta de encontrá-los para cantar nossas músicas preferidas no karaokê, para ficar conversando por horas sobre coisas aleatórias e para sorrir de forma descontrolada das maiores besteiras. Para amenizar a saudade conversamos bastante pelas redes sociais, assim compartilhamos nossas experiências e ajudamos uns aos outros. De modo geral, tenho percebido que o momento tem causado muita apreensão em todos. Não sabemos quando tudo isso vai acabar e nem como será o mundo depois da pandemia. Além disso, o contexto político do país é assustador, estamos sendo atacados todos os dias por um presidente irresponsável - para não usar outro termo - que ameaça de forma direta o futuro da pesquisa e da ciência no Brasil. São tempos difíceis e precisamos de muito cuidado para mantermos nossa saúde mental. Por isso, tento manter um equilíbrio entre o que tenho que fazer e o que quero fazer para também aproveitar meu tempo com coisas que antes não fazia. Como me disse um amigo, precisamos ressignificar o que é ser produtivo nessa quarentena, pois se acreditarmos que somos produtivos somente quando lemos dez artigos e escrevemos vinte laudas, cairemos em uma grande pressão emocional. Podemos ser produtivos quando lemos um livro de poesias que tanto amamos ou quando assistimos um filme que nos faz sorrir. Nesse momento, o que mais importa é o nosso bem estar, temos que priorizar coisas que nos façam bem. Então, que sejamos produtivos, cada um ao seu modo, ao seu tempo e ao seu ritmo. Ao longo do ano de 2019, estudando a conformação dos estudos com vírus no Brasil, sob o ponto de vista da história das ciências, era inimaginável a projeção que estas “entidades morto-vivas” teriam nos primeiros meses do ano seguinte. Ainda no início de março de 2020, enquanto defendia minha dissertação sobre a chegada de uma nova doença viral na década de 1980, a dengue, o problema, embora mais próximo, parecia muito distante. Mas o fato é que os vírus tomaram uma projeção nunca antes observada. Seria impossível medir, atualmente, as inúmeras representações e metáforas criadas acerca desses patógenos, e, num futuro próximo, ainda será tarefa bastante trabalhosa. Um imaginário recheado surgiu, juntamente com um surto criativo. Nunca antes os parasitas intracelulares alcançaram tamanha fama. Agora, recluso em casa, acompanhado pelas poucas espécies de pássaros urbanos que cercam livremente o prédio, é inevitável não pensar em como nós, humanos, ignoramos as forças ecológicas até que elas se apresentem de forma incontornável. Foto: Acervo pessoal/documentário (Jorge Tibilletti de Lara, 2020) A experiência da quarentena não é unívoca. Embora tenhamos de enfrentar, às vezes, o tédio da rotina limitada, nossos sentimentos, pensamentos e sentidos brincam como num parque de diversões. Como doutorando, engano a mim mesmo, ao tentar me convencer de que teria alguma vantagem por, em condições normais, já trabalhar de casa. Mas o fato é que tudo mudou. Agora lemos e escrevemos nossos trabalhos enquanto lá fora ronda, junto de diferentes patógenos, hospedeiros vertebrados e invertebrados e outros objetos inanimados, um novo problema. A nova “espécie” de coronavírus trouxe consigo a clareza de que, se por um lado, a ciência e a tecnologia são fundamentais para a resolução dos grandes problemas contemporâneos, por outro, a sua negação é prática integral dos novos governos em todo o mundo. A disputa pela verdade, em diferentes escalas, não é feita unicamente no laboratório, e, por isso, grupos ideológicos acabam contornando a objetividade dos dados concretos da realidade, através de discursos desconexos, máquinas e atos violentos. Esse é um pequeno retrato do Brasil em 2020. Foto: Acervo pessoal/documentário (Jorge Tibilletti de Lara, 2020) A oscilação entre empolgação intelectual, medo, angústia, felicidade e ansiedade, faz parte da minha experiência na quarentena. Contudo, sem tantos prazos e pressões, as atividades de leitura e escrita seguem bem até o momento. Paralelamente, muitos projetos individuais apareceram. Sempre tenho ideias que vão além das minhas obrigações acadêmicas corriqueiras, mas agora elas ganharam um contexto oportuno. Para além do estudo de um novo idioma, cursos livres, listas de filmes e leituras de clássicos da literatura universal, um projeto em particular é o mais sintomático. Logo no início da quarentena, esbocei algumas ideias e comecei a documentar em vídeo a minha experiência. Essa espécie de “documentário experimental”, no significado mais simples que o termo possa adquirir, tem aglutinado diferentes questões que emergiram ou se tornaram mais concretas. Refiro-me sobretudo ao lugar ocupado pelo conhecimento científico hoje e ao negacionismo, e as tensões entre natureza e sociedade. Para mim, é possível refletir sobre todos esses pontos numa mesma “linha de raciocínio”, num mesmo “filme”, pois essas questões perpassam o meu dia a dia, estando não só presentes no meu gabinete, mas também na minha cozinha, no meu sofá e nas conversas que tenho. O fato é que estou vivendo da forma mais imediata e apavorante aquilo que minha formação em História das Ciências me fez ler nos livros. O extravasamento da natureza sobre a sociedade, ou a própria ilusão de uma divisão purificada entre essas categorias - invenção dos modernos, segundo Latour (1994) -, o drama das epidemias, as doenças, animais e microrganismos como atores sociais. A própria ideia de antropoceno, como era geológica marcada pelas profundas modificações de origem antrópica. Foto: Acervo pessoal/documentário (Jorge Tibilletti de Lara, 2020) Gravar a minha experiência na quarentena, refletindo sem escolha sobre todos esses pontos, é documentar, mesmo que de um modo e um recorte social particular, a vida no século XXI. Mas, embora pareça um projeto completo, roteirizado e sistemático, nada mais é do que uma sucessão das imagens possíveis de serem registradas numa quarentena, com algumas pequenas reflexões livres. Depois de já ter começado, vi que muitos projetos de historiadores públicos surgiram. A Associação dos Historiadores Públicos do Estado de Nova York, por exemplo, passou a incentivar seus membros a documentarem o cotidiano durante a pandemia, dado o impacto global histórico que os novos vírus estão causando. Do mesmo modo, historiadores alemães criaram uma plataforma online com o objetivo de coletar memórias da pandemia (Carvalho, 2020). Há uma necessidade de documentar, registrar, catalogar, de diferentes formas, a primeira pandemia do século XXI. Foto: Imagem colorida à lápis durante a quarentena, retirada do livro gratuito “The Public Domain Review: coloring book - for diversion, entertainment and relaxation in times of self-isolation, vol. 1”, acervo pessoal/documentário (Jorge Tibilletti de Lara, 2020) Menos pretensioso que esses interessantes projetos de História Pública, sem nem mencionar aqui as inúmeras outras produções e projetos das mais distintas áreas (artes, jornalismo, música, literatura, ciência), o projeto de documentar a minha vida durante a pandemia é, também, uma reação a algo que parecia tão distante, mas que não só está perto como constitui nossas sociedades. A emergência de novos vírus não é só o resultado das mutações genéticas desses patógenos. Ela é resultado também da presença humana em diferentes ecossistemas, da carência atual de governos que levem a sério os pressupostos dos cientistas, e, é claro, de um longo processo histórico. Os vírus e outros patógenos não são exógenos ao nosso mundo contemporâneo, não invadem nossas sociedades como alienígenas. Tal como os problemas de ordem sociológica, eles podem até não serem visíveis a olho nu, mas existem e nos afetam independentemente de nossas crenças, ideologias e alinhamentos teóricos. Foto: Acervo pessoal/documentário (Jorge Tibilletti de Lara, 2020) Documentar esta experiência é também produzir algo concreto em meio às incertezas que nos acometem. Se viver no Brasil já estava difícil e continuaria o sendo pelos próximos anos, a pandemia selou de vez a sensação caótica de estar vivo em 2020. Parece que não existe “bala mágica”[1]para este problema, mas valorizar o conhecimento e se engajar em projetos artísticos e filosóficos, pode ser um bom caminho para manter a sanidade, num nível pessoal, e a coerência, num nível profissional. O documentário não tem data para ficar pronto, mas será disponibilizado no YouTube, ainda em 2020. Foto: Acervo pessoal/documentário (Jorge Tibilletti de Lara, 2020)
Referências: CARVALHO, Bruno Leal Pastor de. Associação norte-americana pede a historiadores que documentem a vida cotidiana durante a pandemia (notícia). In: Café História – História feita com cliques. Disponível em:https://www.cafehistoria.com.br/associação-pede-a-historiadores-quedocumentem-a-pandemia-de-coronavirus/ISSN: 2674-5917. Publicado em: 17 abr. 2020. Acesso: [07/05/2020]. CARVALHO, Bruno Leal Pastor de. Historiadores alemães criam plataforma online para coletarmemórias da pandemia do novo coronavírus (notícia). In: Café História – História feita com cliques. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/memorias-da-pandemia-do-novo-coronavirus/ Publicado em: 7 abr. 2020.Acesso: [07/05/2020] LATOUR. Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994. [1]Expressão utilizada pelo bacteriologista alemão Paul Ehrich (1854-1915), em referência a criação de uma droga específica para combater uma doença específica, sem afetar células saudáveis do corpo. Jorge Tibilletti de Lara, Doutorando em História das Ciências e da Saúde (Ppghcs/Coc/Fiocruz) @jorge.tibilletti “Haverá alguma ‘linguagem’ própria do novo coronavírus?”. Perguntei, numa espécie de conversa reflexiva, íntima e improvisada, em que meus interlocutores eram grãos de milho crioulo (Zea mayz), em um dos primeiros dias oficiais de quarentena. “Milho crioulo” é o nome deste vegetal que deriva de uma bricolagem genética entre três espécies de gramíneas selvagens (o teocintle, o Tripsacum, e um pequeno milho de pipoca ancestral hoje extinto), uma “mistura” experimental feita por mãos humanas, que conta com a ajuda do vento (por onde o pólen viaja até ser capturado pelos cabelos da inflorescência feminina de uma planta adulta). Há quase 10 mil anos, este vegetal foi inventado pelas (e inserido nas) socialidades neolíticas da Mesoamérica, tendo descido o continente, com seus cultivadores, por diferentes trajetos migratórios.
Minha conversa reflexiva com grãozinhos de milho, de cultivos oriundos de aldeias de tradição guarani mbya e assentamentos rurais no Estado de São Paulo, teve por inspiração os ritos oraculares mazatecos (etnia mesoamericana que radica, maiormente, pela região da Serra Madre Oriental, no estado mexicano de Oaxaca), e por companhia, recordações de trabalhos de campo e as palavras de alento que uma chjota chjine (uma senhora sábia, curandeira) mazateca acabara de me enviar, naquele mesmo dia, via WhatsApp. Nos ritos oraculares mazatecos que menciono, os condutores de discursividades são grãos de milho crioulo que devem ser arremessados sobre uma superfície de tecido estendida em uma mesa, em “boleomancia” (do grego, prática de “ler o que for atirado”). Os grãos lançados são analisados por uma ou um chjota chjine (curandeira ou curandeiro), e permitem localizar almas perdidas e, assim, identificar a causa de determinadas enfermidades. Uma vez em procedimento de leitura e transmissão destas informações traçadas, pelas constelações que os grãos de milho formam sobre o tecido, toda e qualquer palavra dita é “palavra-florida de milho”, e esse tipo de palavra pertence a um “mundo florido”, um mundo convivente com o “mundo humano”, onde habitam seres de outro tipo que têm potencial de vida e morte, cura e enfermidade, com os quais os humanos precisam manter relações de respeito e reciprocidade. Qualquer palavra dita em rito de leitura de grãos de milho é chamada de “én najmé” e tem a propriedade de identificar doenças e localizar almas perdidas. Para que o milho possa ter mencionada propriedade, ele precisa estar fértil, podendo completar seu ciclo vegetal. Quando não está em qualidade fértil, quando é contaminado por pólen transgênico (que contém genes provenientes de bactérias que foram inoculadas em laboratório nos grãos de milho), as sementes se tornam suicidas, estéreis, e sua voz oracular silencia: ele perde a possibilidade de nascer e de ter um ciclo direto de vida social e natural, e sua agência e discursividade se esvaziam. Os cultivadores passam a precisar comprar sementes transgênicas para plantá-las, e estas sementes trazem venenos letais a diversos seres polinizadores em seu pacote biotecnológico. Minha conversa reflexiva com o milho me fez recordar que sua propriedade oracular e sua presença em ritos cosmológicos específicos, se manifestam de várias formas em outras regiões do continente. Procurei pensar nos locais de onde provinham os grãozinhos com os quais eu conversava. Na região do sudeste brasileiro, os guaranis mbya (grandes cultivadores de milho crioulo – em guarani, avaxi ete’i, lit., “milho verdadeiro”) realizam o rito do Avaxi Nhemongaraí, em que as almas femininas de parentes distantes podem ser identificadas através da análise que os xeramõie as xejarayi(“anciões e anciãs sábias”) fazem do mbojape, um bolinho confeccionado com grãos de milho moídos, misturados com água, e cozidos ao fogo de chão. Camponeses mestiços do MST, da região metropolitana de Sorocaba, também fazem uso de milho crioulo (de que são guardiões de sementes) em rituais cosmológicos-festivos (como a Festa Junina, em que se confecciona inúmeros pratos que têm o milho como ingrediente principal) e, também, para atividades cotidianas e lúdicas, além da nutrição proporcionada pelo seu alto valor energético: com as palhas de milho, as camas são acolchoadas, permitindo sono com sonhos mais vívidos; e da inflorescência feminina do milho é possível criar bonecos que divertem e aguçam a imaginação infantil. A reflexão sobre a pergunta que realizei aos grãos de milho em minha conversa improvisada, sobre a possível existência de uma “linguagem do novo coronavírus”, longe de ser informativa e direta, mostra-se retroativa e densa. A atitude silenciosa desse vírus, de invadir os núcleos celulares e pirateá-los, causando asfixia e morte de mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, em muito permitia recordar a contaminante atitude sem escrúpulos dos genes transgênicos que viajam pelo vento em forma de pólen, e que (antes de serem esse material fecundante) foram elaborados, patenteados, e insertados nas sementes de milho por mãos humanas em práticas laboratoriais de Engenharia Biotecnológica de empresas multinacionais, com fins expressa e decisivamente lucrativos. Perguntei aos grãos de milho: “se as doenças desarticulam almas, que classe de doença é causada pelo novo coronavírus e quais tipos de almas estão sendo desarticuladas?”. Como isto permitiria refletir essa virulenta “linguagem”? No dia 20 de abril de 2020, confirmou-se o primeiro caso de contágio por COVID-19 na Serra Mazateca, e o paciente faleceu pouco tempo depois, fato que levou à suspensão do funcionamento rodoviário e comercial entre diferentes municípios e povoados e à declaração oficial da quarentena. No dia 22 de abril de 2020, a Terra Indígena do Jaraguá, complexo de aldeias guaranis mbya na cidade de São Paulo (capital do Estado de São Paulo), local que teve pouco acesso a testes de COVID-19 e que tem condições muito precárias para tratamento e prática de isolamento físico, teve a confirmação de um primeiro caso de contágio, estando o paciente, atualmente, com sintomas leves sem sair de sua casa. Pouco antes do início da quarentena de combate à pandemia, no dia 30 de janeiro de 2020, parte de um território ligado à TI do Jaraguá, lugar de mata atlântica nativa, foi invadido pela Construtora Tenda, contando com funcionários que em curto tempo, derrubaram mais de 4 mil árvores nativas. A Construtora Tenda, com alvará aprovado pela Prefeitura da Cidade de São Paulo em tempo recorde, estando liberada “oficialmente” pelo Estado e município a utilizar o território e desmatar a região, apresentava como projeto a construção de um condomínio de alto padrão, de prédios com vista para o Pico do Jaraguá (o ponto mais alto da cidade). Os guaranis expulsaram os funcionários da empreiteira, e organizaram um acampamento de vigília ao qual deram o nome de “Ocupação Yary Ty”. Este acampamento durou quarenta dias, contando com diversas atividades rituais e lúdicas, e com a ajuda da mídia livre nacional e internacional. No dia 10 de março, a Polícia Militar, a mando da Construtora Tenda, invadiu a rodovia que dá acesso ao local, e os indígenas responderam com um protesto com cantos, rezas, cartazes, e com o acordo de deixarem o acampamento enquanto o espaço se mantinha juridicamente embargado, podendo manter a vigília do lado de fora do local. Com a declaração da quarentena em combate à pandemia, alguns dias depois, os indígenas voltaram ao interior de suas aldeias para cumprir com o isolamento físico recomendado, mas o que não esperavam aconteceu: uma nova invasão de empreiteiros ligados à Tenda, escoltados por policiais no espaço da Ocupação Yary Ty, foi verificada no início do dia 25 de março: eles ingressaram na região pela madrugada, chamando a uma das lideranças ao local para “conversar”, enquanto distribuíam cercas elétricas e câmeras em postes. Os indígenas denunciaram o ocorrido desde então, em redes sociais e a órgãos competentes, mas somente a partir do dia 07 de abril, por determinação da juíza da 14ª Vara Cível Federal de São Paulo, as obras e os manejos arbóreos foram declarados suspensos por tempo indeterminado. Nesse mesmo período, a distribuição de alimentos orgânicos, oriundos de cultivares crioulos feitos por camponeses mestiços de assentamentos rurais (vinculados ao MST – com territórios reconhecidos pelo ITESP e pelo INCRA, no fim dos anos 1990, no intuito de atender a demandas de reflorestamento de zonas desertificadas pelo agronegócio) da região metropolitana de Sorocaba (a 100 km de São Paulo capital), passou por um processo de reelaboração: uso de EPIs protocolares e de um revezamento de locais de ponto de entrega dentro dos perímetros urbanos foram as medidas que permitiram dar continuidade às atividades da Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA, ver: http://csasorocaba.org.br/), um projeto que reúne agricultores assentados e co-agricultores que vivem nas cidades dentro da lógica da “cultura do apreço” (em vez da “cultura do preço”), e da “economia solidária”. A reelaboração contou com ciclos de doações de alimentos da CSA a entidades e bairros carentes. Campanhas de abastecimento de alimentos, sabonetes, álcool gel e outros EPIs, também foram articuladas pelos membros da CSA no intuito de serem encaminhadas à aldeia Guyra Pepo, de tradição guarani mbya, localizada no município de Tapiraí (na região metropolitana de Sorocaba), atendendo-se a medidas protocolares necessárias durante todo o transporte. A aldeia Guyra Pepo, aliás, tem profunda ligação com a TI do Jaraguá, e sua identificação agrária lembra a atual ação destrutiva da Construtora Tenda: há 20 anos atrás, guaranis mbya foram despojados de seus territórios na cidade de São Paulo, próximo à região do Jaraguá, para a construção da Rodovia Rodoanel Mário Covas (com projeto aprovado em 1998, quando desmataram a área e iniciaram sua construção). Os indígenas protestaram e entraram com recurso pela ação das construtoras rodoviárias, mas somente em 2018, puderam receber uma indenização que os possibilitou a aquisição deste território (de aprox. 400 hectares) em Tapiraí. Minha conversa reflexiva com os grãos de milho revela destruição. Revela que o novo coronavírus inaugura um momento em que a “magnitude” humana (moderna, pós-colonial e pós-industrial) é questionada. Revela que a derrubada de árvores num decisivo descompromisso com a produção de oxigênio (agora escasso aos pacientes com COVID-19), e a modificação genética de organismos vegetais junto à expansão desenfreada de uso de venenos que afetam vias respiratórias humanas e de outros animais (quebrando correntes de polinização natural, assassinando invertebrados e vertebrados), são ações que contam com um apoio irresponsável de autoridades negacionistas, engajadas a matrizes bioéticas que separam o ser humano da natureza, e que derivam das lógicas coloniais de extrativismo, monocultura e monopensamento. Estas mesmas medidas, como afirmam as hipóteses mais aceitas até o momento, foram responsáveis pela elaboração (mediante mutação a partir de outros vírus-corona) e propagação deste novo coronavírus. A invasão agressiva do habitatde polinizadores morcegos (Horseshoe bat), e o consumo alimentar excessivo de sua carne (feito amplamente em países asiáticos, e fortemente na cidade de Wuhan, China), causaram estresse e estados somáticos peculiares para que estes mamíferos voadores pudessem se tornar hospedeiros resistentes e, assim, vetores de transmissão dessa espécie de “infravida” que é o COVID-19. Se as bactérias inseridas na transgênese têm o potencial de exterminar a qualidade crioula do milho, e se os vírus de COVID-19 têm o potencial de enfermar toda a população mundial (configurando a “pandemia”), tanto os seres humanos quanto o milho em qualidade crioula estão, juntos, íntima e geneticamente ameaçados por seres microscópicos e invisíveis. Conversar com os grãos de milho, estes que têm em seus agenciamentos e discursividades as bricolagens crioulas dos indígenas e dos camponeses mestiços, permite entrever que a doença provocada pelo COVID-19 e aquela, anterior à pandemia, de ordem biotecnológica, transgênica, monocultural, ligada ao agronegócio, à especulação imobiliária e ao desenvolvimentismo, têm como linguagens uma espécie de “anti-voz” nociva, com poder de asfixiar (e silenciar) populações inteiras, de humanos e não-humanos. Uma possível reversão, de resgate e rearticulação de almas perdidas, dentro deste quadro somático-social pandêmico, está nas mãos das cultivadoras e cultivadores: está em suas cosmopolíticas, em seus ritos culinários, festivos e oraculares, no cuidado das sementes crioulas (dos quais são guardiãs e guardiões) e, portanto, na articulação de agenciamentos e discursividades que atravessam e comunicam diferentes ontologias, que atravessam sem invadir, sem devastar, extrair, dominar, silenciar ou asfixiar. Ana Paula Lino de Jesus [[email protected]] é doutoranda no PPGAS/MN/UFRJ. Seu projeto de pesquisa e de tese tem como título: “Quando o milho se cala: sobre as esterilizações do milho partindo da Serra Mazateca de Oaxaca, México”. Fez pesquisa de campo no México e, no Brasil, em aldeias guarani e assentamento agrários no estado de São Paulo. |
AutoresAna Cláudia Teixeira de Lima, PPGHCS/COC/Fiocruz Arquivos
Novembro 2020
|